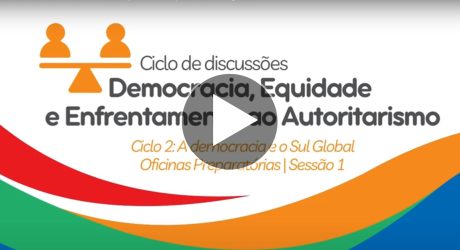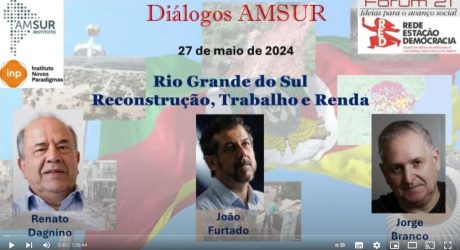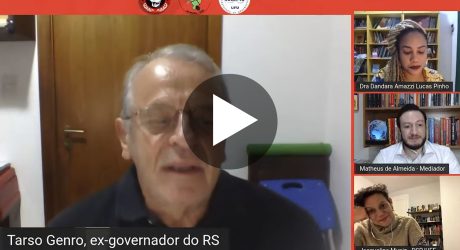Vivemos tempos complexos, imprevisíveis e críticos, caracterizados pela confluência de diferentes crises -mudanças climáticas, saúde, erosão da democracia, desigualdades, conflitos, guerras, migrações em massa, crise fiscal, crise monetária, e outros. Essa realidade traz a impressão de que o mundo não voltará a ser o que era.
Todos esses desafios estão interconectados e vem transformando o panorama global evidenciando a urgência de buscar soluções coletivas e promovendo o debate sobre a mudança na estrutura do poder mundial e nas organizações internacionais que orientam as ações dos países no âmbito internacional.
O mundo se encontra fragmentado, dividido em polos que variam conforme o assunto. Não existem mais alinhamentos automáticos. Neutralidades, alianças, vínculos históricos, relações econômicas, laços culturais e identidades políticas estão em mutação e permanente recombinação.
Não há como negar que as organizações internacionais tiveram uma função crucial no panorama político mundial, contribuindo para a prevenção de guerras, agindo em situações de crise humanitária e promovendo a preservação da paz. Criadas por volta dos anos 1940, as entidades de governança global surgiram com a finalidade de abordar problemas coletivos relacionados a economia, política e segurança ou culturais que afetam mais de um Estado, por meio da adoção de acordos legais que servem tanto para facilitar como gerir a cooperação entre os países. Elas são multilaterais, pois seus conselhos são formados por entidades e países, trabalhando em conjunto para encontrar soluções que tenham acordos de todos os membros.
Essa gramática organiza grande parte dos mecanismos de governança global, que aumentam o diálogo e a cooperação internacionais e diminuem a propensão ao uso da força como principal instrumento para resolver disputas.
Nos últimos anos, acadêmicos e especialistas aferem que as múltiplas crises recentes e certo fracasso para evitá-las coloca em xeque a eficácia das instituições multilaterais globais.
A Organização das Nações Unidas (ONU) e suas múltiplas agências estão perdendo seu brilho, estão sendo criticadas por sua falta de eficiência, esclerose institucional e lutas ideológicas internas. A Organização Mundial do Comercio por exemplo, não conseguiu concluir as negociações da Agenda de Doha iniciadas em 2001, pois o bilateralismo e o protecionismo estão ressurgindo em todo o mundo, e seu sistema de solução de controvérsias estagnou. A arquitetura complexa de controle de armas estabelecida no final da Guerra Fria está ameaçada pelo desmantelamento do acordo nuclear com o Irã. Os esforços multilaterais para lidar com as mudanças climáticas fizeram, na melhor das hipóteses, um progresso simbólico. A governança da internet está perdendo sua aspiração inicial de uma sociedade do conhecimento sem fronteiras, pois algumas empresas privadas estão acumulando dados exponencialmente e estados autoritários estão usando-os indevidamente como uma ferramenta de vigilância e repressão.
Alguns autores, defendem que o sistema das Nações Unidas opera de maneira paradoxal, sendo simultaneamente um exemplo de solidariedade, mas ao mesmo tempo de injustiça mundial (Acharya, 2017)[1]. O certo é que a organização não passou por alterações que a adequem à atual configuração internacional.
Isso ocorre dentre outras, devido à propagação do conceito de que a ONU e o sistema multilateral são criações do Ocidente, resultando em uma desvalorização dos participantes não-ocidentais na promoção dos seus princípios.
Os participantes não ocidentais estão adquirindo maior relevância na agenda mundial, exigindo transformações nos conceitos de governança, desenvolvimento e segurança. Esses conceitos, que foram propagados de forma universal, não levaram em conta as particularidades de cada país, gerando impactos diferentes para cada um deles. Dessa forma, novas perspectivas emergiram de acordo com as necessidades de cada nação, especialmente nas regiões do Sul global.
Diversos especialistas indicam que, diante da falta de alterações nas Organizações Internacionais, os países do Sul global estão formando seus próprios fóruns multilaterais para reivindicar mudanças na governança global e manifestar suas necessidades como nações em desenvolvimento. Esse cenário também tem levado a um enfraquecimento da instituição.
Um aspecto que intensifica a crise de legitimidade das instituições internacionais é a ausência de envolvimento de diversos grupos sociais globais, que são afetados pelas resoluções adotadas pelos organismos. Especialistas têm destacado, com frequência, a importância vital da participação dos indivíduos na promoção da democratização das instituições internacionais e como protagonistas da globalização. É essencial que esses grupos possam expressar suas opiniões nas deliberações das organizações internacionais, uma vez que são eles que enfrentam os efeitos dessas decisões.
Mais um antecedente da crise atual do multilateralismo é a ascensão dos governos populistas e nacionalistas que ameaçam as democracias no seu âmbito doméstico, mas que também enfraqueceram e minimizaram a percepção e apoio público pela cooperação multilateral. Sendo os Estados o elo entre a sociedade e as organizações internacionais, esse movimento contribuiu ainda mais para o enfraquecimento do multilateralismo.
O que parece estar acontecendo não é exatamente o colapso da governança global, mas sim o declínio de um certo modelo de multilateralismo, que é evidenciado pela supremacia liberal ocidental e pelos tratados e instituições intergovernamentais criados após a Segunda Guerra Mundial. Com os países mostrando crescente hesitação em apoiar financeiramente organizações internacionais e em participar de acordos obrigatórios, também estão se desapegando das ambições universalistas mais abrangentes da ordem liberal internacional e da dinâmica de benefícios mútuos que caracteriza a cooperação internacional. Assim, uma nova ordem multilateral pode estar sendo desenvolvida, o que poderia afetar o Ocidente e seu compromisso com a democracia.
O Sul Global como um Ator da Sociedade Internacional
A crise financeira de 2008 e suas repercussões estabeleceram um cenário propício para um debate há muito esperado sobre o futuro do sistema econômico global e o papel dos países do Sul Global. Inicialmente, a crise permitiu que as economias em desenvolvimento demonstrassem sua capacidade de resistir a impactos externos, revelando a fragilidade das economias desenvolvidas, que se mostraram menos sólidas do que se supunha. Além disso, a crise revelou as deficiências do modelo econômico predominante e da ideologia subjacente. Assim, a crise de 2008, até certo ponto, marcou um divisor de águas em relação à participação política crescente das nações emergentes, evidenciada, primeiramente, pela transição do G7/8 para o G20, que se tornou uma estrutura de governança econômica global mais inclusiva, após o sistema de Bretton Woods, e, em segundo lugar, pelo surgimento dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em 2009, como uma aliança econômica e geopolítica que abrange 42% da população mundial e mais de 25% do PIB global.
Muitos observadores veem a aliança BRICS como um contrapeso às organizações dominadas pelo Ocidente, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Em sua cúpula de 2014, os BRICS anunciaram a criação do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) para ajudar a financiar projetos futuros de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em cada país membro, bem como em outras economias emergentes.
O Sul Global estabeleceu-se como um ator-chave na contestação ao Ocidente sob uma lógica anti-imperialista ou de duplo padrão. Neste momento estamos assistindo à imagem mais simbólica deste momento geopolítico, quando os BRICS estão reunidos na Rússia para formalizar a sua expansão. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul somam ao seu clube Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Juntos, representam 46% da população mundial, 29% do PIB global e incluem dois dos três maiores produtores de petróleo do mundo. Desta forma, os BRICS ganharão uma voz ainda mais poderosa, embora inevitavelmente também seja possível que integrem mais contradições internas e as suas próprias agendas. O Sul Global continuará a ganhar influência, mas também heterogeneidade. Para além de uma retórica pós-colonial partilhada, a sua ação é muito diversificada. O Sul Global é multirregional e multidimensional e é composto por diferentes regimes políticos. Mas é também o espaço geográfico onde os fluxos comerciais globais são consolidados como consequência da reglobalização.
A ascensão dos BRICS contribuirá para uma maior coerência entre a arquitetura financeira internacional e uma economia global mais multipolar, na qual o poder económico e político começa a estar menos concentrado em alguns países — nomeadamente nos EUA e na Europa Ocidental — como em tempos anteriores. Isto é significativo porque as Economias Emergentes e os BRICS têm o potencial para projetar as perspectivas e as opiniões do Sul Global em áreas políticas importantes, incluindo o desenvolvimento económico, a reforma das instituições internacionais e o futuro do multilateralismo. Ao mesmo tempo, o surgimento de novas instituições financeiras internacionais nos BRICS, como o Novo Banco de Desenvolvimento e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), pode potencialmente fortalecer a arquitetura financeira internacional ao complementando e concorrendo com as tradicionais Instituições de Bretton Woods.
Portanto, parece benéfico para a governança global como um todo contar com a ascensão do Sul Global como um desenvolvimento nas relações internacionais. Os BRICS e os outros emergentes impulsionam o debate sobre liderança global e áreas políticas importantes, trazendo a perspectiva do Sul Global e as especificidades do cenário de cada nação, portanto, acabando com a visão unilateral sobre esses assuntos e dispostos a reinterpretar a hegemonia da ordem liberal.
Talvez o desafio maior para os países do Sul Global, é o de manter independência política e de ação, buscando defender os interesses de suas populações, sem tomar partido na disputa pela nova hegemonia global travada entre China e Estados Unidos. É o conceito de não alinhamento ativo que vai ajudar a expandir os laços com o vasto mundo não ocidental e que com certeza irá moldar o novo século.
Reformando as instituições multilaterais
As instituições e organizações multilaterais atuais e estabelecidas durante a Segunda Guerra Mundial, são compostas por estruturas e divisões de poder que favorecem os países ocidentais. Esse arranjo e a hegemonia ocidental não refletem as realidades estratégicas e econômicas contemporâneas, especialmente com potências intermediárias, como Índia, Japão, Brasil, Alemanha, além de representantes africanos, como Nigéria e África do Sul, conquistando rapidamente uma posição mais relevante na economia global e na segurança.
Esses países têm liderado esforços para promover reformas, começando pelas Nações Unidas, mas se estende às organizações multilaterais, instituições financeiras e bancos de desenvolvimento para trazer mais representatividade e maior diversidade cultural.
As mais influentes potências médias com o apoio de vários grupos estão pressionando pela expansão do Conselho de Segurança da ONU, incluindo membros permanentes e não permanentes.
Entretanto, as tentativas de progredir nas conversas acerca da reformulação do Conselho de Segurança da ONU aparentam não ser bem-sucedidas, pois as negociações avançam de maneira bastante morosa, em razão da burocracia da organização e dos interesses políticos envolvidos. Além da ampliação do Conselho de Segurança, é fundamental realizar outras mudanças que aumentem a confiança das nações nesta instituição.
A democratização das organizações e instituições multilaterais abriria caminho para um renovado senso de pertencimento ao multilateralismo entre as potências médias e emergentes. Ao contrário das superpotências, as potências médias e emergentes têm significativamente mais a ganhar com o multilateralismo, tanto nas esferas de bens públicos globais quanto na segurança.
Hoje em dia, um dos maiores obstáculos para as organizações multilaterais é a desconfiança que existe em torno delas e dos “grupos diplomáticos” e “coalizões” menores que as integram. A falta de transparência cria uma percepção de “conspiração” entre os países, uma situação que poderia ser mitigada por meio de reformas que favoreçam a clareza, a responsabilidade e a democracia nessas instituições.
Hoje em dia, um dos maiores obstáculos que as organizações multilaterais enfrentam é a falta de confiança que existe em relação a elas, assim como em relação aos pequenos “grupos diplomáticos” e “coalizões” que as integram. A ausência de transparência cria uma impressão de “conspiração” entre os países, situação que poderia ser atenuada por meio de reformas que incentivem a transparência, a responsabilidade e a democracia no interior dessas instituições. Para que as nações possam depositar sua confiança em essas entidades, é essencial que elas participem ativamente do processo de decisão.
Dessa forma, a escassa participação da sociedade civil na governança global continua a ser, de longe, seu principal paradoxo. À medida que as ações de governança se intensificam e se tornam mais invasivas na vida das pessoas, e elas continuam excluídas das decisões, a legitimidade desse processo é questionada. Cada vez mais, os países transferem suas atribuições para instituições internacionais, transgovernamentais ou transnacionais, que tomam decisões que deixam o público em geral, especialmente aqueles diretamente impactados, sem qualquer oportunidade de se pronunciar.
Instituições financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, que fornece financiamento e suporte a vários países por meio de empréstimos e subsídios, precisam urgentemente superar seus alinhamentos ocidentais e olhar para o desenvolvimento mais amplo e a construção de confiança em toda a comunidade internacional. Embora isso exija que as potências ocidentais renunciem a uma parcela de seu poder, os benefícios a longo prazo serão uma ordem internacional livre e inclusiva, o que beneficiará a todos.
Uma crise de legitimidade e autoridade
O que entendemos por multilateralismo refere-se à forma como o sistema global utiliza um conjunto de princípios e regras que, em princípio, devem ser respeitados por todas as nações. Trata-se de um processo que institucionaliza métodos de cooperação e colaboração em políticas públicas, promovendo uma certa estabilidade e previsibilidade nas interações entre países e suas sociedades.
A estrutura da ONU incorpora um aspecto de equidade no tratamento entre as nações, visto que todos os 193 países membros dispõem de direito a voto e voz na Assembleia Geral. Contudo, existem desigualdades evidentes de poder, como o privilégio especial dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Esses países, conhecidos como P5, conservaram o seu poder de veto desde 1945 e, com frequência, desconsideram as normas que deveriam impor — uma contradição histórica que diversas nações criticam de forma justa.
O sistema multilateral permanece como um elemento central nas relações internacionais. Entretanto, quando as regras desse sistema são frequentemente desrespeitadas ou desconsideradas, nota-se uma falta de legitimidade e de poder. Essa insuficiência pode se agravar, levando a uma crise mais séria. Esse fenômeno é visível em pelo menos dois contextos: a crise da saúde provocada pela COVID-19 e as questões relacionadas à segurança e aos direitos humanos.
As duas situações evidenciaram a profunda diferença entre a magnitude dos desafios globais e as deficiências na governança internacional. Além disso, são um reflexo de uma crise preexistente e contribuem para a intensificação da inatividade do sistema mundial.
A pandemia de COVID-19 e a OMS sofreram severas críticas por parte do governo do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, além de terem sido praticamente ignoradas pelas nações mais desenvolvidas em seus esforços para garantir uma distribuição equitativa das vacinas.
A falha da ONU em reagir de maneira eficaz ao conflito na Ucrânia é mais uma evidência do que um catalisador na crise do multilateralismo. A Rússia reviveu a guerra de agressão e a anexação territorial como instrumentos de sua política externa. No entanto, as potências ocidentais que atualmente condenam a invasão russa e ocupam assentos permanentes no Conselho de Segurança e também utilizaram a força militar de forma unilateral nas últimas décadas, desrespeitando a Carta da ONU e as normas do direito internacional.
Há uma sensação crescente de que, mais uma vez, o sistema global está sendo instrumentalizado para favorecer os países mais ricos e poderosos. Nesse contexto, duas limitações significativas na atuação da ONU se tornaram claras. A primeira refere-se às dificuldades que a Organização enfrenta quando lida com conflitos que envolvem as grandes potências que possuem assento permanente no Conselho de Segurança. A segunda, que está ligada à primeira, diz respeito ao modo como os interesses individuais de certos Estados membros complicam a ação da Organização, tornando-a tendenciosa e problemática.
O Conselho de Segurança da ONU tem visto uma diminuição contínua em sua credibilidade. Essa vulnerabilidade é especialmente resultante das ações de seus membros permanentes, que iniciam conflitos não aprovados na tentativa de ampliar seus territórios ou alterar regimes. A inércia do órgão é a evidência mais clara da urgência e da necessidade de sua reforma.
Outra grave circunstância é a evidente violação, por parte de Israel, das normas do direito internacional, além do desdém em relação às decisões e resoluções contundentes da Assembleia Geral da ONU, que estipulam que Israel não deve obstruir o povo palestiniano em seu direito à autodeterminação, que abrange a criação de um Estado independente e soberano em toda a Região Palestina Ocupada.
Esse cenário se torna ainda mais grave devido à inação de seus parceiros em interromper o horrendo massacre de civis que ocorre em Gaza. Vários desses aliados foram, de fato, os responsáveis pela elaboração do sistema jurídico estabelecido após a Segunda Guerra Mundial.
Com o aumento das violações dos direitos humanos, a estrutura global fundamentada em normas enfrenta a ameaça de colapso.
Mas essa crise sem precedentes pode fornecer uma oportunidade para uma mobilização em larga escala do Norte e do Sul Global para um novo multilateralismo. Nesse contexto, uma pré-condição para esse “novo multilateralismo” é uma reforma realista da atual estrutura institucional e governança. Como disse Adam Lupel: “A crise do multilateralismo não é sobre decadência. É sobre transformação, com complexidade, competição e incerteza. O mundo mudou, e o sistema está lutando para se adaptar”[2].
Da erosão democrática
Uma das marcas mais notáveis do século XXI está relacionada às ameaças à democracia liberal em diversas partes do globo, especialmente no Ocidente. Estamos enfrentando um período de “retrocesso democrático”, e os estudos acadêmicos apontam que um processo de democratização está em andamento.
As democracias, tanto as consolidadas quanto as emergentes, e aquelas consideradas maduras ou apenas em desenvolvimento, estão enfrentando esse fenômeno. Diversos são os elementos que surgem como causas dessa perda de relevância, incluindo aspectos globais, como a crise da globalização/hiper globalização, o descontentamento com as medidas tomadas após a crise de 2008, ou ainda a utilização das redes sociais para manipular a opinião pública. Além disso, há também questões internas, como a desigualdade e a corrupção entre as elites, além do distanciamento dos políticos em relação à realidade e às dificuldades cotidianas.
A degradação da democracia refere-se, assim, à lenta e contínua perda ou comprometimento das qualidades que definem os sistemas democráticos. Esse fenômeno representa uma diminuição, limitação ou extinção das condições políticas e institucionais essenciais para que a democracia possa realmente se estabelecer.
Isso gera graves repercussões políticas, econômicas e sociais nos territórios afetados e influencia a governança mundial e a estrutura internacional, resultando, em algumas ocasiões, em efeitos consideráveis em meio à instabilidade geopolítica.
Dessa forma, nas discussões em nível global, as gestões de Trump e Bolsonaro evidenciaram que a visão soberanista da extrema direita entra em desacordo com o princípio essencial do multilateralismo, pois o multilateralismo requer a renúncia consensual de um aspecto da soberania nacional em benefício de objetivos comuns, como a luta contra as mudanças climáticas.
Alexander Wendt[3] afirma que, no contexto atual, é evidente que as instituições multilaterais refletem o que os Estados e seus líderes projetam nelas e os propósitos que buscam. Em outras palavras, as organizações internacionais não resolvem, por si mesmas, os desafios globais. Elas requerem a atuação e a colaboração dos Estados.
Os estados funcionam como uma ligação entre seus cidadãos e as organizações internacionais, e o governo de um país tem um papel fundamental na sua relação com essas instituições. Em momentos de crise, como observado nos Estados Unidos durante a presidência de Trump e no Brasil sob Bolsonaro, as estratégias multilaterais muitas vezes são deixadas em segundo plano em favor de prioridades nacionalistas, levando à adoção de soluções unilaterais para problemas globais. A crise de saúde pública agravou essa situação, tornando mais difícil a atuação das Organizações Internacionais (OIs) no combate à pandemia.
Neste momento, vivemos uma fase de desagregação, de retrocesso e de discursos nacionalistas que minimizam as conquistas da governança global, onde os sucessos alcançados através do multilateralismo e da administração global são eclipsados por retóricas e comportamentos discriminatórios, além de iniciativas unilaterais opostas à globalização.
Por isso a promoção da democracia participativa é essencial no enfrentamento do declínio das instituições. As democracias representativas tendem a ser mais robustas quando promovem, ampliam e fortalecem a participação ativa dos cidadãos nas questões que os afetam diretamente e não só nas questões domésticas senão também nas questões internacionais.
Se a democracia for desgastada e enfraquecida, ou transformada num regime autoritário, na mesma medida perde-se também a possibilidade de viver numa ordem política aberta, na qual os cidadãos possam controlar e responsabilizar o poder público, através do exercício dos seus direitos e liberdades.
Intensificação das mudanças climáticas e valorização da cooperação
Em um mundo em transformação, é essencial observar atentamente como a questão ambiental e climática se integra na análise das dinâmicas políticas e econômicas internacionais contemporâneas e na representação do equilíbrio de poder global. A organização da vida social enfrenta riscos de colapsos devido às incertezas e vulnerabilidades resultantes da crise ambiental.
Um aspecto crucial para enfrentar os desafios provocados pela crise ambiental e climática deve ser a rejeição de soluções simplistas que não considerem a complexidade do problema, buscando alternativas que sejam verdadeiramente duradouras, inclusivas e globais.
Enquanto o século XX marcou a conscientização sobre as questões ambientais globais, as duas primeiras décadas do século XXI são caracterizadas pela urgência de ações que busquem soluções mais estruturais, tanto na produção, no consumo e investimentos que promovam uma rápida descarbonização da economia global.
As Nações Unidas alertaram que as mudanças climáticas põem em perigo elementos essenciais da ordem internacional, desde o regime de direitos humanos ou a segurança internacional até à soberania e autodeterminação de alguns Estados insulares.
A mudança climática é reconhecida como um desafio global que requer cooperação entre os países para ser resolvido, pois ultrapassa limites territoriais, governos e culturas.
O multilateralismo, que se refere à cooperação entre países para enfrentar problemas que vão além das fronteiras nacionais, tem enfrentado um declínio nos últimos anos. Esse retrocesso se deve a fatores como a ascensão de políticos populistas e negacionistas em várias partes do mundo, que frequentemente desprezam ou questionam a validade da ciência climática e a desconfiança nas instituições internacionais e a dificuldade em alcançar consensos em questões de grande escala. Por outro lado, a continuidade dos subsídios a combustíveis fósseis para as indústrias, processo de desindustrialização e as pressões econômicas exacerbadas por crises financeiras levam muitos países a priorizar seu crescimento econômico imediato em detrimento de ações climáticas de longo prazo, dificultando ainda mais a cooperação global.
Além disso, a governança internacional enfrenta o desafio de integrar as vozes dos países em desenvolvimento, que muitas vezes são os mais afetados pelas consequências da crise climática, mas que têm recursos limitados para responder a essa emergência. A falta de inclusão e de um diálogo equitativo nos fóruns multilaterais pode resultar em soluções inadequadas ou insatisfatórias.
Entretanto, no fim das contas, esses compromissos só terão relevância se estiverem integrados a um sistema de responsabilização que envolva todos os participantes e promova a transformação de comportamentos em escala global.
Propostas:
- A defesa de um sistema multilateral mais forte, mais interligado e inclusivo, e participativo, centrado nas Nações Unidas. Um multilateralismo eficaz depende de as Nações Unidas também serem eficazes, capazes de se adaptarem aos desafios globais e, ao mesmo tempo, cumprirem os propósitos e princípios da sua Carta.
- uma nova distribuição do poder e do protagonismo na estrutura da governança global. Se enfatiza a urgência de implementar novos mecanismos de distribuição que possibilitem aos países desempenhar um papel mais relevante nas decisões.
- importância de incluir novos participantes na arquitetura internacional. A maioria das questões internacionais é cada vez mais o resultado de uma ação global complexa que demanda a colaboração de uma infinidade de atores e requer diversos instrumentos de coordenação.
- O multilateralismo como um meio de articulação entre governos e uma variedade de relações com movimentos e atores da sociedade civil, que, por sua vez, têm sido vitais no avanço da maioria das agendas globais e nas suas soluções. O multilateralismo não deve ser visto apenas como um conjunto de ferramentas ou processos de interação entre nações.
- defender a coerência na implementação do Direito Internacional e utilizar os mesmos princípios para qualquer tipo de crise ou conflito, sem levar em conta os atores e a sua posição geográfica.
- as instituições e processos multilaterais precisam se tornar mais democráticos e inclusivos. Cada país deve ter direitos iguais para ter voz na formação de estruturas de políticas multilaterais e cooperação em relação à construção da paz, resolução de conflitos, mudanças climáticas e não proliferação de armas. Em particular, os países afetados por conflitos que estão no lado receptor de intervenções de construção da paz, humanitárias e de desenvolvimento precisam ter o direito de influenciar políticas sobre isso.
- é imprescindível uma transformação sistêmica e estrutural imediata, conduzida pela cooperação internacional, solidariedade e um sistema multilateral que proteja a democracia, os direitos humanos e garanta a dignidade das pessoas e comunidades para as futuras gerações.
- uma agenda para a era global, que seja capaz de: garantir uma oferta adequada de bens públicos globais;
- um conjunto de reformas na arquitetura mundial de comércio e propriedade intelectual que permita a livre transferência da tecnologia necessária para uma transição ecológica justa e forneça imediatamente capacidades e incentivos aos países em desenvolvimento;
- É urgente transformar promessas em ações concretas
[1] ACHARYA, A. Global Governance in a Multiplex World, EUI RSCAS Working Paper,
Florence, n. 29, 2017a.
[2] LUPEL, Adam. Democratic Politics and Global Governance: Three Models.
- Disponível em:
<http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/democracy/Lupel_11-20-03.pdf>
[3] Wendt. A. state as person in international theory Review of international Studies 30 (2), 289-316