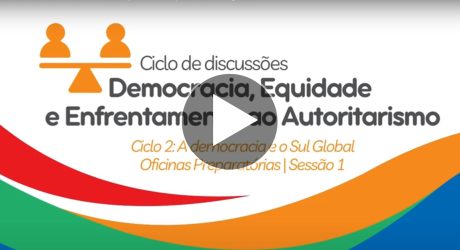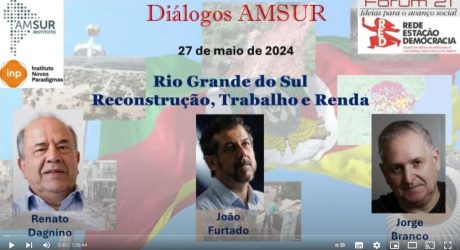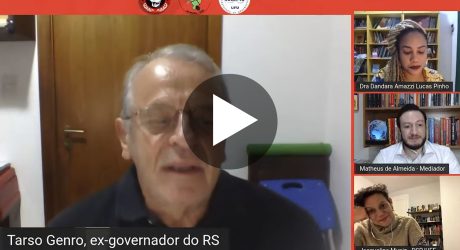Diferentes interpretações da obra política de Rousseau o fazem por vezes um jusnaturalista, por outras um juspositivista, por outras um racionalista, outras ainda o cotizam como um inspirador revolucionário, numa perspectiva, portanto, histórico-crítica. Este trânsito entre uma e outra corrente de pensamento torna o desafio de construir uma concepção de direitos humanos a partir de Rousseau uma empresa desafiadora. Mesmo afirmando a existência de um direito natural, Rousseau imputa a este direito uma relação necessária com o direito civil público a fim de dar-lhe complemento e real sentido. Esta relação de complementariedade é, a nosso ver, condição para que os direitos humanos, numa perspectiva universal, sejam possíveis e passíveis de realização histórica a partir do pensamento rousseauísta.[2]
Tendo presente que um dos temas centrais ao qual Rousseau dedica sua obra política é o que trata do surgimento da desigualdade política (moral) entre os homens, o desafio aqui posto é o de tratar sobre os aspectos que levam à superação da situação de desigualdade – à qual se chegou no período que antecede ao pacto legítimo -, como condição necessária para a validação dos direitos humanos numa perspectiva universal. Ou seja, quando Rousseau propõe a ideia de um pacto fundador da sociedade política, com o intuito de “encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes” (Rousseau, 2006, p. 20), ele vê na associação civil (no pacto legítimo) a possibilidade de reconstrução dos valores morais e políticos para uma sociedade mais justa. Neste sentido, embora não se entenda esta como tarefa das mais simples, olhando para o aspecto dos direitos humanos, a posição de Rousseau aponta para a direção de que somente um pacto de associação legítimo entre os homens pode fundamentar direitos civis e políticos capazes de instituir a liberdade e a igualdade do cidadão, fazendo frente à situação de desigualdade a que chegaram as sociedades modernas. Em outras palavras, esta é a única forma de garantir de fato direitos iguais a todos os indivíduos.[3]
Com base neste pano de fundo desenvolveremos esta análise em dois momentos. Primeiramente, vamos tratar do estado de direito como fundamento e caminho para a restauração e a garantia das liberdades e da igualdade entre os homens. Ao tratar deste aspecto veremos que a lei, como resultado da vontade livre e autônoma dos indivíduos (auto-interessados), é um marco fundamental do estado de direito e que submete o poder coercitivo (da força) ao direito. Veremos também que para Rousseau a lei, ao menos enquanto perspectiva de universalidade é, ao mesmo tempo, o objetivo e o resultado do que se refere, essencialmente, ao bem comum e ao interesse geral, sob o desígnio da soberania popular. Ou seja, a lei é o resultado da manifestação da vontade geral, “(…) que tende sempre à preservação e ao bem-estar do conjunto e de todas as partes, e que é a fonte das leis, consiste na regra do que é justo e injusto, para todos os membros do Estado, com respeito a eles mesmos e ao próprio Estado.” (Rousseau, 2003, p. 07)
Na segunda parte vamos trabalhar a ideia de que no âmbito da associação civil em Rousseau estabelece-se uma relação necessária entre direitos humanos e os valores e princípios republicanos[4]. Nesta relação, os direitos humanos como direitos cidadãos são resultados de construção histórica, oriundos dos anseios de indivíduos livres e iguais, que como membros de uma comunidade plural e diversa, estão dispostos a participar do jogo democrático para a consecução de acordos que ordenem os aspectos fundamentais e comuns para a vida em sociedade, logo, trata dos direitos humanos entendidos como liberdades positivas e objetivas numa perspectiva dos interesses que são comuns à comunidade.
Esses interesses comuns são objeto da vontade geral como expressão da soberania popular no pensamento político do genebrino. O aspecto da soberania popular no pensamento político de Rousseau está ligado diretamente à afirmação dos direitos humanos, uma vez que reconhece a todos os cidadãos como sujeitos autônomos e de direitos, e, ao mesmo tempo, como representantes legítimos da vontade geral e dos interesses comuns. Logo, a vontade geral resultante da soberania popular não pode não ser uma expressão que não seja plural e universal[5], e que vise afirmar os direitos humanos numa perspectiva tanto individual quanto coletiva.
Embora não haja uma definição específica sobre o conceito de Estado de direito[6] na obra política do pensador genebrino, são vários os momentos, em especial no Contrato Social, nos quais os aspectos que caracterizam o Estado de direito moderno aparecem de forma muito clara[7]: seja sobre as regras e leis comuns que estão na base da associação civil; sobre as origens da formulação e constituição destas regras e leis comuns; bem como sobre como podem ser aplicadas tais regras e leis, através das autoridades instituídas, de forma legítima e universal a todos os cidadãos. A base inicial da teoria contratual em Rousseau, conforme ele a descreve já na introdução do Contrato Social, ao dizer que sua intenção é “aliar o que o direito permite ao que o interesse prescreve, a fim de que a justiça e a utilidade não se encontrem divididas” (Rousseau, 2006, p. 09), mostra que a instituição do Estado de direito é o caminho convencional para a superação das desigualdades artificialmente forjadas entre os homens e para o real exercício do direito humano à igualdade e à liberdade de todos os cidadãos.
O momento que antecede imediatamente ao pacto legítimo[8] proposto por Rousseau, no qual a desigualdade está instalada entre os homens, é o momento em que o homem, numa perspectiva de universalidade, está alijado na sua condição de liberdade e igualdade. Diante deste contexto de desigualdade ao qual se chegou nas sociedades modernas, o caminho legítimo capaz de restaurar a liberdade e a igualdade aos homens, passa, para o genebrino, pela convenção que institui o estado civil (Estado de direito).
Observe-se que no estágio da associação civil o homem ao qual Rousseau se refere é o cidadão. Este homem[9] não mais se movimenta em vista de seus interesses particulares, mas sim dos interesses comuns, dos quais também ele goza enquanto membro do corpo coletivo, instituído pelo pacto. O homem, agora associado, é o cidadão que age amparado pela razão e que livremente aliena seus bens e direitos particulares em vista de todos e, portanto, não menos para si, como forma de assegurar o bem comum, a liberdade e a igualdade de todos.[10]
Como se pode perceber, o momento da associação civil dá novo sentido também ao conceito de liberdade no pensamento político de Rousseau. A liberdade civil que ora vige possui caráter adverso à liberdade natural, conforme destaca Rousseau no Capítulo VIII, Livro I, do Contrato Social, ao dizer que:
O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto deseja e pode alcançar; o que com ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo quanto possui. Para que não haja engano a respeito dessas compensações, importa distinguir entre a liberdade natural, que tem por limites apenas as forças do indivíduo, e a liberdade civil, que é limitada pela vontade geral, e ainda entre a posse, que não passa do efeito da força ou do direito do primeiro ocupante, e a propriedade, que só pode fundar-se num título positivo. (…) poder-se-ia acrescentar à aquisição do estado civil a liberdade moral, a única que torna o homem verdadeiramente senhor de si, porquanto o impulso do mero apetite é escravidão, e à obediência à lei que se prescreveu a si mesmo é liberdade. (Rousseau, 2006, p. 26)[11]
Como podemos ver a base que orienta o Estado de direito, enquanto resultado da associação civil, e que confere potencialidade para sua manutenção e para a garantia dos direitos dos cidadãos numa perspectiva universal, é a lei convencional. Esta relação entre o Estado de direito e a lei é ponto que passamos a tratar no momento seguinte.
O marco do Estado de direito no pensamento político rousseauísta como resposta ao poder absoluto e à não submissão do indivíduo à força física, aspectos estes que caracterizam-se como contrários aos direitos de liberdade e igualdade na modernidade, aparece com todo seu vigor no Capítulo III, Livro I, do Contrato Social quando o genebrino afirma que:
O mais forte nunca é o bastante forte para ser sempre o senhor, se não transformar sua força em direito e a obediência em dever. (…) A força é um poder físico, não vejo que moralidade pode resultar de seus efeitos. Ceder à força é um ato de necessidade, e não de vontade; é, quando muito, um ato de prudência. (…) Convenhamos, pois, que a força não faz o direito, e que só se é obrigado a obedecer aos poderes legítimos. (Rousseau, 2006, p. 12-13)
Observe-se neste trecho que a força física além de tornar desiguais os indivíduos pelo viés da imposição e da coerção, também não oferece ao indivíduo um mínimo de constância e segurança quanto ao futuro, estando, pois, continuamente ameaçado a todo e qualquer ato de arbitrariedade que a força física permita entre um e outro. É somente com a instituição do Estado de direito que se pode garantir o direito à liberdade aos indivíduos, e desta forma também ao conjunto da sociedade. Isto ocorre porque a legitimidade do poder no Estado de direito está vinculada às convenções que estatuem a liberdade e estabelecem a igualdade entre os homens neste estágio[12]66. Sobre este último aspecto no Capítulo IV, Livro I, do Contrato Social, assim detalha Rousseau:
Já que nenhum homem tem autoridade natural sobre seu semelhante, e uma vez que a força não produz direito algum, restam então as convenções como base de toda a autoridade legítima entre os homens. (Rousseau, 2006, p. 13)
Contudo, tendo presente que todo o marco da associação civil se dá no âmbito das convenções, precisamos entender aqui o real sentido da lei na perspectiva rousseauísta e, inclusive, traçar sua relação com a perspectiva dos direitos humanos. Para tal, não podemos nos omitir em tratar da relação existente entre a lei e a justiça na filosofia do genebrino. Por outro lado, este aspecto precisa ser também considerado a fim de que não tornemos Rousseau um juspositivista no sentido clássico do termo.
Pois bem, para tratar da relação do conceito de lei em Rousseau com a ideia de justiça[13], no âmbito do que nos interessa ao objeto da dissertação, tomaremos como ponto de partida os aspectos que aparecem no Capítulo II, Livro VI, do Contrato Social, onde o genebrino coloca a lei como exigência para validade e manutenção do pacto, e como se origina esta lei. Neste trecho o autor afirma:
O que é bom e conforme à ordem o é pela natureza das coisas e independente das convenções humanas. Toda a justiça provém de Deus, só ele é a sua fonte; mas, se soubéssemos recebê-la de tão alto, não necessitaríamos nem de governo nem de leis. Há, por certo, uma justiça universal que emana unicamente da razão, porém essa justiça, para ser admitida entre nós, precisa ser recíproca. Se considerarmos humanamente as coisas, desprovidas de sanção natural, as leis de justiça são vãs entre os homens. Produzem somente o bem do malvado e o mal do justo, quando este observa para com todos sem que ninguém as observa para com ele. Por conseguinte, tornam-se necessárias convenções e leis para unir os direitos aos deveres e conduzir a justiça ao seu fim. (Rousseau, 2006, p. 46)
Com base nesta citação, está posto que Rousseau admite uma ordem natural superior (justiça divina) da qual tudo emana. Desta ordem natural, pela via do desenvolvimento da racionalidade humana, supõe-se chegar a uma justiça universal que reúna princípios e valores, tais como a liberdade e a igualdade. Contudo, em assim sendo, esta justiça universal precisa ser traduzida em convenções e leis a fim de obter validade de fato. Em outras palavras, a justiça é um sentimento presente na natureza humana, que no plano civil, no qual são estabelecidas as regras e os critérios do justo e do injusto, do bom e do mau, necessita de convenções e leis para efetivar-se.[14]
Como vemos, é possível observar uma relação clara entre as leis e a justiça em Rousseau. Ou melhor, há uma exigência de que as leis oriundas da vontade geral sejam justas em relação ao conjunto dos indivíduos que formam o corpo coletivo. Este aspecto da justiça universal, que orienta as leis estabelecidas pela vontade geral, garante que um Estado seja de fato republicano e legítimo. Portanto, deve-se considerar que há estados que não são legítimos e leis que não são justas, e tais aspectos estão intimamente ligados com uma teoria dos direitos humanos, no pensamento do genebrino.
Enfim, é sob o signo das leis legítimas[15], portanto, que o Estado republicano de direito é instituído com o real propósito de se fazer justo e garantidor dos direitos fundamentais de todos os cidadãos.[16] A lei é para Rousseau a forma pela qual o pacto se move e se concretiza de fato, logo, é o que lhe dá validade e ao mesmo tempo o mantém entre os cidadãos. A lei é também o parâmetro para o que é justo e injusto na vida em sociedade[17]. Neste sentido, a lei é o que estatui os direitos no estado civil e estabelece os parâmetros para a igualdade entre todos os indivíduos/cidadãos.
A associação civil e, logo, as leis dela decorrentes, somente podem existir a partir do ato livre por meio do qual cada indivíduo aliena todos os seus direitos em favor de todos[18]. Este ato de alienação, resultante da disposição livre de cada indivíduo em favor do interesse comum, é o ato gerador da lei, ou conforme define Rousseau, é a própria liberdade[19]. Isto significa que ao alienar seus direitos em favor da comunidade, o indivíduo não está negando ou anulando a si próprio, até mesmo porque, a liberdade do indivíduo é seu maior bem e renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade, e até aos próprios deveres. (…) Tal renúncia é incompatível com a natureza do homem, e subtrair toda liberdade a sua vontade é subtrair toda moralidade de suas ações. (Rousseau, 2006, p. 15)
Logo, o ato de alienação dos direitos em favor da comunidade, da qual cada cidadão é membro, não é uma negação da liberdade individual, mas a garantia de que esta liberdade individual será preservada na vida em sociedade.[20]
O caráter ou o status estabelecido pelo direito político mediante o pacto vincula e beneficia a todos por igual, seja para o gozo dos direitos humanos fundamentais, seja para o compromisso com a comunidade, com o corpo coletivo, do qual cada cidadão é membro e co-participante. Este é um dos fundamentos do pacto segundo Rousseau, conforme está posto no Capítulo IV, Livro II, do Contrato Social:
O pacto social estabelece tal igualdade entre os cidadãos que todos eles se comprometem sob as mesmas condições e devem gozar dos mesmos direitos. Assim, pela natureza do pacto, todo ato de soberania, isto é, todo ato autêntico da vontade geral, obriga e favorece igualmente a todos os cidadãos, de sorte que o soberano conhece somente o corpo da nação e não distingue nenhum daqueles que a compõem. (Rousseau, 2006, p. 41)[21]
Como é possível perceber, o objeto da lei sobre a qual o cidadão estatui livremente, enquanto membro do corpo político, não tem como objeto seu interesse particular unicamente, mas o interesse comum a todos os cidadãos. Contudo, isto não o anula enquanto indivíduo, uma vez que o indivíduo, como cidadão, é parte do corpo coletivo.[22] Sobre o ato gerador da lei, e como se dá a relação entre o indivíduo e o corpo coletivo (ou a comunidade), no Contrato Social, Livro II, Capítulo VI, assim descreve Rousseau:
Todavia, quando todo o povo estatui sobre todo o povo, não considera senão a si mesmo, e nesse caso, se há uma relação, é entre o objeto inteiro sob um ponto de vista e o objeto inteiro sobre outro ponto de vista, sem nenhuma divisão do todo. Então a matéria sobre a qual se estatui é tão geral quanto a vontade que se estatui. É a esse ato que chamo uma lei. (Rousseau, 2006, p. 47)
Perceba-se, como já manifestamos anteriormente, que este conceito traz uma série de elementos importantes no que se refere ao exercício da soberania popular. Em primeiro lugar chama atenção para a idéia de igualdade ao explicitar que a lei origina-se de todos (da vontade geral) e aplica-se também a todos. Neste aspecto, conforme bem elucida Derathé
trata-se de uma relação do corpo político com cada um de seus membros. Dito de outro modo, os mesmos homens são, ao mesmo tempo, legisladores e sujeitos às leis, e constituem assim, ao mesmo tempo o soberano e os súditos. (Derathé, 2009, p. 430)
Por outro lado, no segundo momento do conceito está claro que o objeto sobre o qual a lei deve versar é o objeto comum, de interesse de todos, uma vez que conforme bem destaca Debrun, “é na medida que existir um interesse de todos em fazer isso ou aquilo que cada um poderá se identificar com a lei.” (Debrun, 1962, p. 45)
Concernente a este aspecto da identidade do povo com as leis sobre o qual Debrun menciona em seu comentário, vale lembrar Rousseau na Carta VIII das Cartas escritas da montanha, quando diz que “um povo livre obedece, mas não serve; ele tem chefes, e não senhores; ele obedece às leis, mas somente a estas; e é pela força das leis que ele não obedece aos homens”. (Rousseau, 2006b, p. 372) Veja-se que a lei que identifica a todos como povo é a mesma lei que estabelece a condição de igualdade e de não dependência de um indivíduo a outro, logo, a lei é um instrumento que representa a concretude da vontade geral do povo na forma de constitucionalidade.[23]
Como é possível averiguar ao longo desta primeira parte do capítulo III, nossa pretensão é mostrar que o Estado de direito é decorrência da relação entre os indivíduos que agem livremente em favor da coletividade e, assim sendo, o Estado de direito é o encontro das individualidades e das diferenças naquilo que lhes é comum[24], o que em amplo sentido tem relação com as exigências éticas, morais e políticas orientadoras a uma teoria dos direitos humanos na obra política rousseauísta, sob o signo da igualdade e das liberdades no âmbito civil[25]. Em outras palavras, o Estado de direito é resultado do acordo entre as partes envolvidas em vista do todo e do que é comum a todos, logo, o Estado de direito é o instrumento formalizador e garantidor dos direitos fundamentais e universais de seus cidadãos, pela forma da lei positivo- convencional.
Por outro lado, pode-se perceber que nos marcos do Estado de direito, os pressupostos da igualdade e da liberdade que regem os “direitos naturais”, agora protocolam a dignidade humana como valor inalienável ou inviolável, ao reaparecerem na vontade geral dos cidadãos, regulamentados e expressos por meio da lei convencional. É a lei autêntica, como expressão da vontade geral, revelada pela moral e pela razão humana, que institui o bem comum e suplanta os interesses particulares. Neste sentido, pode-se afirmar que em Rousseau, a lei positiva, é o instrumento indutor e factual dos direitos humanos, bem como da sua universalização na vida em sociedade.
Por fim, observa-se que sobre os aspectos relativos ao Estado de direito e sobre a regência deste Estado pelo governo das leis, parece que o pensamento político de Rousseau se desenvolve em concordância com os contratualistas ou convencionalistas modernos. Contudo, diferentemente do que para seus antecessores, para Rousseau, as leis que são o liame orientador da vida em sociedade e que tornam os direitos dos cidadãos factíveis, só podem ser legítimas se representarem a vontade geral e se o seu exercício estiver sob a condução desta mesma vontade que é sempre soberana e inalienável. Logo, é no pleno e constante exercício participativo de todos, que aqui chamamos de processo político democrático baseado em princípios republicanos, que os indivíduos/cidadãos constroem seus direitos e os fazem valer de fato, conforme passamos a tratar na segunda parte deste exercício de reflexão.
A proposição de que há uma relação necessária entre os direitos humanos e o republicanismo moderno, pode ensejar uma série de interpretações e nuances, inclusive, o de sua própria contradição, uma vez que vivemos em repúblicas, na sua grande maioria sob regimes de governos democráticos[26], que não conseguem assegurar que os direitos humanos sejam respeitados e efetivados a todos os seus membros, embora estejam ampla e claramente reconhecidos em suas constituições. A questão nos parece bem e legítima, contudo, conforme argumento bastante comum na filosofia, a tarefa da aplicabilidade é mais uma questão de decisão política e de governo, do que eminentemente filosófica.[27] Neste caso, à filosofia cabe então somente a tarefa da fundamentação dos direitos humanos e da sua universalidade ou não, através de que possam subsidiar compreensões acerca da sua existência.
Ora, se é pois verdade que o objeto da reflexão filosófica acerca do tema dos direitos humanos é o da sua fundamentação, não nos parece menos verdadeiro que, com base na filosofia política rousseauísta, a questão da fundamentação dos direitos humanos e da sua universalidade, não pode subsistir de forma descolada da ação política enquanto lugar do diálogo e do fazer, uma vez que a própria fundamentação dos direitos humanos e da sua universalidade resulta de um processo que envolve decisão política no espaço público, com a participação direta dos indivíduos/cidadãos, implicado com a realidade social e cultural de seu tempo[28]. Esta leitura aponta para uma perspectiva de que, a partir de Rousseau, os direitos humanos e a sua universalização são construção histórica e que sua construção é possível e desejável, mesmo que não exclusivamente,[29]83 num regime político democrático guiado por princípios e valores republicanos de Estado.
Em outros termos, o que ora nos importa mostrar, é que o processo político de construção e afirmação dos direitos humanos e de sua universalidade a partir do pensamento de Rousseau, está baseado em princípios e valores republicanos. Republicanos no sentido de que somente é legítimo num Estado de direito “guiado pela vontade geral, que é a lei” (Rousseau, 2006, p. 48), mas também no sentido de que os direitos pertencem, conforme o compreende Habermas, “a uma ordem jurídica objetiva que ao mesmo tempo possibilita e garante a integridade de uma convivência com igualdade de direitos e autonomia, fundada no respeito mútuo”. (Habermas, 1995, p. 41)[30]
Dado o caráter político e objetivo que perpassa esta relação entre os princípios e valores republicanos e os direitos humanos numa perspectiva de universalidade, depreende-se daí que a base desta construção e efetivação na perspectiva rousseauaísta se dá na forma das leis convencionais como resultado da vontade geral, manifestas e circunscritas, por sua vez, nas constituições nacionais moderno-contemporâneas. Neste sentido como nos diz Goyard-Fabre:
No Estado moderno, o constitucionalismo, de acordo com as idéias que os Constituintes defendiam, é como que o motor do destino do seu povo. A Constituição, adquirindo valor (…) de ‘lei fundamental’, contém as ‘razões seminais’ do direito: é ao mesmo tempo a regra da inteligibilidade e a regra de validade do sistema jurídico que exprime os poderes teóricos e práticos da razão. (…) determina também as promessas da ordem pública. (Goyard-Fabre, 2002, p. 351)[31]
Nosso intento até este ponto do terceiro capítulo foi o de construir o entendimento de que, a construção de uma concepção de direitos humanos, universalmente válida, a partir do pensamento político rousseauísta e no âmbito da abrangência à qual está circunscrita a vontade geral, somente é possível nos marcos e regras de um Estado constitucional de direito.
Por fim, e não poderia ser diferente no marco de um Estado constitucional de direito, é preciso ter presente que as constituições, embora abriguem a pluralidade da vontade geral e representem o que há de comum no momento presente, devem estar totalmente abertas aos adventos políticos futuros da coletividade, desde que passem pelo crivo da vontade geral, que é a expressão da soberania popular. Logo, conforme veremos no ponto seguinte, é na soberania popular, tomada a partir daqui como expressão máxima das Republicas democráticas e da pluralidade de idéias, que reside o poder e a dinâmica capaz de afirmar constantemente os direitos humanos em sociedades democráticas de direito.
Ao falarmos da soberania popular como símbolo ou expressão republicana e democrática nas sociedades modernas e contemporâneas, e de que os princípios orientadores e oriundos desta relação são os fundamentos para a construção e afirmação histórica dos direitos humanos a partir da obra política rousseauísta, acorremos à contribuição de Habermas em duas idéias que parecem nos ajudar a clarear o que estamos dizendo. Para Habermas “a idéia dos direitos humanos e a da soberania do povo determinam até hoje a autocompreensão normativa de Estados de direito democráticos” (J. Habermas 1997ª, p. 128); e, o que está em jogo no Estado democrático de direito, e que opõe os defensores do liberalismo aos da democracia “é a disputa em torno do modo como a igualdade pode ser combinada com a liberdade, a unidade com a pluralidade, o direito da maioria com o da minoria”. (Habermas, 1997b, p. 258)
Dentro do escopo que compreende a relação entre soberania popular, Estado democrático e direitos humanos, como decorrência da última idéia acima tratada, para Habermas os defensores da democracia, e em especial Rousseau,
entendem a prática coletiva dos sujeitos livres e iguais como formação soberana da vontade. Eles interpretam os direitos humanos como manifestação da vontade soberana do povo, ao passo que a Constituição nasce da vontade esclarecida do legislador democrático. (…) Rousseau, o precursor da Revolução Francesa, entende a liberdade como autonomia do povo e como participação de todos na prática da autolegislação. (Habermas, 1997b, p. 259)
E, ainda, no que se refere à emanação dos direitos humanos a partir do poder legislador contido na soberania popular enquanto conceito rousseauísta, no dizer de Habermas:
O ponto mais interessante desta consideração consiste no vínculo estabelecido entre a razão prática e vontade soberana, entre direitos humanos e democracia. E, para que a razão legitimadora do poder não se anteponha mais à vontade soberana do povo – como em Locke -, situando os direitos humanos num campo fictício, atribui- se uma estrutura racional à própria autonomia da prática da legislação. Uma vez que a vontade unida dos cidadãos só pode manifestar-se na forma de leis gerais e abstratas, é forçada per se a uma operação que exclui todos os interesses não generalizáveis, admitindo apenas as normatizações que garantem iguais liberdades. O exercício da soberania popular garante, pois, os direitos humanos. (Habermas, 1997b, p. 259)
No sentido do que pontua Habermas, o poder político contido na idéia de soberania popular rousseauísta, que possui a capacidade de gerar e garantir os direitos humanos, está posto com toda sua força e de forma explícita no Capítulo IV, Livro II, do Contrato Social quando o genebrino afirma que
assim como a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social dá ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus, e é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade geral, recebe, como ficou dito, o nome de soberania. (Rousseau, 2006, p. 38)
Como vemos, para Rousseau a soberania consiste na vontade geral, que está sempre com o povo, o que por sua vez, a torna intransferível, inalienável e indivisível. Estes aspectos sobre o caráter da soberania distanciam Rousseau da matriz de pensamento da escola do direito natural, uma vez que segundo seus representantes principais a soberania pode ser transferida ou alienada se assim o povo o julgar que seja para seu próprio bem.[32]
Concernente a posição defendida por Rousseau na qual a essência da soberania está na vontade geral, que é a vontade popular naquilo que lhe é comum, parece bem razoável a defesa de que a soberania “nunca pode alienar-se, e que o soberano, não passando de um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo”. (Rousseau, 2006, p. 33) Como vemos, ao tratar da inalienabilidade da soberania, pode-se concluir que Rousseau adota uma postura radical sobre a perspectiva de um Estado republicano e democrático, que possui exigências palpáveis quanto ao direito de participação e de decisão sobre os interesses que envolvem a todos na coletividade, da qual cada indivíduo é parte, e entende que estes direitos são intransferíveis, uma vez que transferindo-os a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, estaria, em certo sentido, numa linguagem contemporânea, abrindo mão de ser sujeito sobre aquilo que diz respeito a si próprio, isto é, sobre seus direitos.
Rousseau argumenta ainda em favor da inalienabilidade da soberania valendo-se do entendimento de que a liberdade não é propriedade comerciável, que se compra ou se vende, como um bem utilitário qualquer. Neste sentido, ao defender a inalienabilidade da soberania conforme está posto no Livro II, Capítulo I, do Contrato Social[33]87, Rousseau não causa grande surpresa ou mudança de rumo em face do que já antecipara no Segundo Discurso, quando faz uma clara distinção entre o que seja direito de propriedade, enquanto direito convencionado, e a liberdade, enquanto dom natural, conforme afirmara ao dizer que
“os bens que alieno se me tornam algo totalmente alheio cujo abuso me é indiferente; importa-me, porém, que não abusem de minha liberdade” (…), e completa dizendo, “ademais, uma vez que o direito de propriedade não é mais que convenção e instituição humana, qualquer homem pode dispor a seu bel-prazer daquilo que possui; mas não se dá o mesmo com dons essenciais da natureza, tais como a vida e a liberdade, cujo gozo é permitido a todos e das quais é pelo menos duvidoso que se tenha o direito de despojar-se: privando-se de uma, degrada-se o próprio ser, privando-se da outra, aniquila- se tudo que existe em si próprio; e, como nenhum bem temporal pode compensar uma e outra, seria ofender a um só tempo a natureza e a razão renunciar a elas o preço que for”. (Rousseau, 2005, p. 230)
Por outro lado, a defesa da inalienabilidade da soberania parece também para Rousseau, sob uma perspectiva ética e política, uma necessidade no mínimo coerente com a manutenção da liberdade individual e para a manutenção do corpo político, conforme atesta quando diz que “renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem (…) e tal renúncia subtrai toda a moralidade a suas ações” (Rousseau, 2006, p. 15); e, ao mesmo tempo, quando manifesta que
se o povo promete simplesmente obedecer, por este mesmo ato ele se dissolve e perde sua qualidade de povo; no momento em que há um senhor, já não há soberano e, desde então, destrói-se o corpo político. (Rousseau, 2006, p. 34)
Logo, para Rousseau, a alienação da soberania invalida o próprio pacto, ao menos na perspectiva de que este é uma associação de homens livres, em conformidade com a vontade geral.
O caráter de exigência republicano e democrático, ganha contornos ainda mais fortes, seguindo uma perspectiva coerente com a idéia de inalienabilidade e de vontade geral, quando Rousseau, no Capítulo II, Livro II, do Contrato Social, é categórico em afirmar que
pela mesma razão por que é inalienável, a soberania é indivisível, visto que a vontade ou é geral ou não é; ou é a do corpo do povo, ou unicamente de uma parte. No primeiro caso, essa vontade declarada é um ato de soberania e faz a lei; no segundo, não passa de uma vontade particular ou de um ato de magistratura; é, quando muito, um decreto. (Rousseau, 2006, p. 35)
Veja-se que nesta passagem, ao tratar da indivisibilidade da soberania, Rousseau torna a chamar a atenção para o fato de não ter como dividir o poder soberano, sem que com isto incorra-se na destruição da unidade da vontade geral (e, logo, do corpo político), gerando o fracionamento do interesse comum em face à defesa de interesses particulares ou de grupos.
Por outro lado, outro aspecto que merece destaque sobre a soberania popular e o seu caráter republicano e democrático, é o fato de que o exercício do poder popular soberano em Rousseau, como ato de liberdade, não é simplesmente o resultado de um voluntarismo político em vista de atender aos interesses de cada indivíduo. Na verdade, o exercício da soberania popular em Rousseau implica em o indivíduo assumir uma postura que exige compromisso político e social, com relação à vontade geral, da qual ele como indivíduo é parte, e o todo é o que orienta sua ação para legislar e para vigiar a aplicação das leis, em vista do bem comum. Neste sentido, para Rousseau liberdade e compromisso não são conceitos que se opõem, mas basilares um ao outro, uma vez que não se pode ser livre sozinho e que o exercício da soberania popular implica num compromisso que cada um assume por si só, como ato livre, baseado, portanto, em valores republicanos e democráticos.[34]
Em termos gerais, o conceito de soberania constitui-se como ponto de referência para a fundamentação de diferentes teorias político-jurídicas em diferentes situações históricas, como também em estruturas estatais diversas na modernidade. Sobre este aspecto, aparentemente generalista, parece-nos que o importante a ser observado, é que, mesmo dentro desta diversidade de fundamentação e estruturas, a centralidade da soberania deve estar sempre ligada à lei, sendo a lei, portanto, o principal instrumento de organização da sociedade e de orientação para o exercício do poder soberano.[35] Logo, neste sentido, a lei nos estados constitucionais modernos, exerce pelo menos uma dupla função, podendo ser em determinados momentos a manifestação soberana que garante e exige os direitos dos cidadãos, e, em outros, a regra jurídica que tem legitimidade e capacidade de frear o poder soberano quando este viola os direitos dos cidadãos.
Este último aspecto do parágrafo antecedente parece-nos fundamental no sentido de demonstrar que o poder soberano não pode ser um poder arbitrário (mesmo o poder soberano popular), se isso significa ultrapassar os limites da lei. Para Rousseau, o poder soberano popular é absoluto porque definidor e detentor da lei, contudo a própria lei instituída pela soberania popular é o que estabelece os limites do que possa vir a constituir-se como ato de violação dos direitos, conforme previstos na lei, e, este fundamento, refuta a idéia de uma soberania popular arbitrária e autoritária, e mantém coesa a idéia de que a soberania popular é a expressão do exercício republicano e democrático em vista dos direitos humanos dos cidadãos.[36]
Tratar do sentido da soberania popular numa perspectiva rousseauísta dentro do escopo que orienta os estados constitucionais modernos, significa deparar-se com questões fundamentais ligadas não só ao exercício do poder soberano, mas também sobre seus limites e possibilidades. Logo, o desafio pode envolver aspectos que tratam desde a (não) representação e a identidade/legitimidade popular, à relação indivíduo, sociedade e pluralismo, como até sobre a perspectiva da garantia e da efetividade dos direitos humanos no nível da universalidade que abrange a todos os membros de uma mesma comunidade.
Sobre o aspecto da relação indivíduo, sociedade e pluralismo, enquanto elementos fundamentais à reflexão sobre os direitos humanos na modernidade, e ao mesmo tempo como aspectos que suscitam e inflamam críticas ao pensamento político rousseauísta e ao objeto ora posto para reflexão, faz-se necessário, a nosso ver, abordar pelo menos dois vieses. Um que trata da acusação feita à Rousseau sobre uma suposta anulação do indivíduo diante da sociedade e, outro que trata da dificuldade ou da insuficiência do conceito de vontade geral em dar conta de abarcar os interesses/direitos individuais e coletivos em sociedades modernas plurais, sem com isto incorrer numa perspectiva uniformista.
Para tratar destes aspectos, retomamos a idéia de que a lei, como ato da vontade geral, embora possua como orientação universal no que se refere ao interesse geral e ao bem comum, não representa oposição ao indivíduo ou a negação da identidade individual de cada cidadão. Se assim fosse, teríamos aí uma arbitrariedade com relação aos direitos humanos, que não podem prescindir do indivíduo em seu caráter singular, embora sejam todos membros de uma mesma comunidade. Sobre este aspecto da não contradição ou então da convivência complementar num ambiente plural entre a individualidade e a vontade geral (comunidade) na perspectiva Rousseauísta, o comentário de Maruyama parece-nos esclarecedor e suficiente, ao afirmar que:
A vontade geral não versa diretamente sobre conteúdos. Ela é a voz dos membros da comunidade, sem que com isso possa de antemão fixar o que é do interesse geral. Não há na teoria contratual de Rousseau uma batalha travada entre o todo e suas partes, ou uma posição a favor da sociedade ou do Estado, contra os indivíduos, como queriam alguns de seus intérpretes. Ainda que dê parâmetros para as leis e tenha como objeto o que é do interesse coletivo, a vontade geral jamais se volta diretamente contra os indivíduos ou as aspirações individuais. Ela não se constitui como um conteúdo determinado de antemão e deduzido de alguma concepção essencialista da natureza humana. Esta é a novidade da concepção de vontade geral de Rousseau: ela não requer um fundamento absoluto. (Maruyama, 2010, p. 08)
Por outro lado, ao tratar de enfrentar a questão da uniformidade que estaria contida na base ou que seria o resultado final intangível da vontade geral, a mesma autora afirma que:
A vontade geral é a soma das diferenças. Diferentemente do que se supunha, ela não suporta a homogeneidade, não é uma verdade matemática.[37] Princípio do direito e das leis, a vontade geral não versa sobre as particularidades e, entretanto, de algum modo diz respeito às diferenças, às contrariedades, à multiplicidade. Não existiriam leis ou direitos estabelecidos se não houvesse contendas, conflitos, disputas. A multiplicidade e a heterogeneidade, a pluralidade de opiniões e culturas, integram o mundo moderno e fazem parte da história de construção dos conceitos de poder político, sociedade civil, cidadania. Precisamos de leis e das normas jurídicas porque vivemos juntos, e vivemos juntos sendo, contudo, diferentes. (Maruyama, 2010, p. 08)[38]
Com relação ao aspecto que versa sobre a soberania popular enquanto manifestação coletiva em vista da garantia e da efetividade dos direitos humanos numa perspectiva universal, parece-nos que também duas idéias são importantes e precisam ser postas claramente. Uma primeira idéia é sobre o fato de que em Rousseau os direitos humanos, embora tenham como base de ancoramento, os sentimentos e as paixões que envolvem a natureza humana, não podem ser concebidos a partir de uma perspectiva metafísica tão somente, como herança natural, mas sim como construção histórica que envolve processos de decisão política e que vem a se constituir num conjunto de regras e leis positivas, que ordenam a vida em sociedade.
Tal conjunto de regras e leis gerais ordenadores da vida em sociedade é resultado da manifestação autônoma de cada indivíduo enquanto cidadão, e, constitui, a vontade geral como decorrência da soberania popular. Logo, a soberania popular, além de estabelecer as leis em vista da garantia constitucional dos direitos humanos, carrega também em si o poder de fazer com que estes direitos sejam de fato efetivados e renovados constantemente, através da pressão política popular. No dizer de Bobbio, “a soberania marca sempre o começo de uma nova organização social: é um fato que cria ordenamento”. (Bobbio, 2004, p. 1185)
Ainda sobre o aspecto da importância e da peculiaridade do papel político exercido pela soberania popular em vista da efetividade dos direitos humanos, cabe ter presente que no que se refere aos estados constitucionais moderno/contemporâneos, os quais na sua grande maioria buscam um equilíbrio na divisão dos poderes, há, na visão de Bobbio, um
processo de formalização e despersonalização do poder, que acaba por esconder quem, de fato, manda, em última instância, na sociedade política. A construção do Estado de direito parece ter amarrado e neutralizado este poder. A soberania, porém não desapareceu: em épocas normais e tranqüilas não é percebida, porque adormecida; em situações excepcionais, em casos limites, ela volta com toda sua força. (Bobbio, 2004b, p. 1184)
Esta visão aponta para uma leitura de que é muito difícil pensar uma sociedade que garanta direitos humanos regida por um Estado de Direito sem o consentimento da soberania e da vontade popular. Parece ser este o anseio que, da modernidade até os dias atuais, é capaz de mover multidões a manifestarem seu descontentamento com determinados governos manifestamente autoritários, ou mascaradamente republicanos e democráticos, tendo em vista a defesa dos direitos fundamentais, em especial a vida, a liberdade e a igualdade.
Por outro lado, uma segunda idéia que precisamos ter claro quando tratamos da fundamentação dos direitos humanos numa perspectiva de universalidade a partir de Rousseau, é a de que o pensamento político do genebrino, sobretudo seus Princípios do direito político[39], como princípios republicanos e constitucionais, traz algumas influências à concepção do Estado democrático de direito da era moderna. Logo, quando se trata da perspectiva da universalidade dos direitos humanos a partir do pensamento político rousseauísta, se está a tratar dos fundamentos e dos valores inalienáveis para todos os seres humanos, a saber, a vida, a liberdade e a igualdade, mas também se está a tratar da universalidade dos direitos humanos enquanto totalidade dos cidadãos no âmbito da territorialidade do Estado Constitucional do qual cada um é membro, e onde cada cidadão, como consequência do pacto legítimo, participa da construção, do exercício e do gozo dos seus direitos como cidadão livre e igual. Neste sentido, é no Estado de direito, como decorrência do Pacto legítimo, através da vivência na lei, oriunda da vontade geral, que está posta a possibilidade da superação da desigualdade moral e política (estabelecida entre os homens pelos pactos/estados ilegítimos) e da efetiva realização dos direitos humanos a todos os seus membros.
A nosso ver, é sob um modelo de sociedade calcada em princípios e valores republicanos, regida por governos democráticos, sob a decisão e orientação do povo, que os riscos de arbitrariedades e violações por parte do poder soberano para com os cidadãos parece ser menos previsível, e ao mesmo tempo mais transformável, renovável e mutável. Embora não se esteja livre dos interesses particulares, de determinados grupos ou poderes, não há outro instrumento que melhor simbolize a soberania popular do que as constituições nacionais que regem os povos e estabelecem seus direitos no âmbito de seus territórios, o que no âmbito externo é expresso através das diferentes convenções internacionais (pactos, cartas, etc). Sobre este aspecto, conforme destaca Derathé, é possível ver uma ampla concordância com o pensamento de Rousseau, uma vez que este
não nega que o Estado possa dar-se uma constituição, mas, para ele, essa constituição só existe pela vontade do soberano, o qual pode mudá-la quando lhe apraz. As leis do Estado, inclusive as leis fundamentais, são apenas a expressão da vontade geral. Basta, portanto, que essa vontade mude para que as leis estabelecidas sejam revogadas e substituídas por outras: a autoridade que as dita pode também aboli-las. (Derathé, 2009, p. 483)[40]
Neste sentido, os Princípios do direito político defendidos pelo genebrino vão na linha de que as constituições devem ser resultado de procedimentos de ampla e permanente participação popular (assembléias, referendos, plebiscitos etc), capazes de garantir que todo o reordenamento ocorrido que tenha em vista o bem comum corresponda à vontade popular, e respeite a singularidade de cada cidadão ou membro da comunidade.
Por fim, cabe uma palavra no sentido de que a idéia de soberania popular evocada por Rousseau, desde seu início, cumpre historicamente um papel político fundamental na luta do povo em defesa dos direitos humanos e contra o que possa vir a se constituir em regimes de governos autoritários e ditatoriais. Talvez o ideal de soberania popular defendido por Rousseau tenha limites conceituais na sua total abrangência ou nem mesmo encontre plena realização do ponto de vista prático na atualidade. Contudo, não devemos tomar o conceito apenas em caráter simbólico, uma vez que mesmo em diferentes regimes de governo, é a soberania popular (a vontade do povo) que na maioria das vezes cumpre com um papel crítico e de resistência contra posturas e poderes instituídos manifestamente arbitrários, bem como incide na defesa e na promoção dos direitos humanos das populações.
[1] O presente documento é parte da minha dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal de Goiás (UFG) em 2014, cujo título é “A possibilidade de Universalização dos Direitos Humanos a partir do pensamento político de Jean-Jacques Rousseau”. Por ocasião dos debates e reflexões instados pelo processo desenvolvido pelo Instituto Novos Paradigmas (INP) no âmbito do projeto Democracia, Equidade e Enfrentamento aos Autoritarismos, entendi que o presente documento poderia trazer contribuições ao debate posto a partir da Revista Democracia e Diretos Fundamentais (DDF).
[2] A esta perspectiva dois comentários me parecem importantes. Segundo Maruyama “(…) o estatuto que se pode conferir aos direitos do homem nunca é o de um direito natural preexistente à associação civil. Entretanto, concepções como as dos direitos humanos, considerados fundamentais para a paz, a liberdade, a justiça e a dignidade humana, não ficam sem firmes alicerces na história do pensamento jurídico. De acordo com a tendência geral da filosofia moderna, podemos explicar a inteligibilidade das concepções dos direitos do homem a partir de uma investigação da natureza humana. Encontramos na obra de Rousseau esta peculiaridade comum à teoria da consciência e à teoria da vontade geral, que consiste em fazer convergir mundo natural e mundo inteligível.” (Maruyama, 2010, p. 11)
[3] Sobre os fundamentos da associação e a sua necessidade para a garantia dos direitos humanos numa perspectiva de igualdade e universalidade, no Contrato Social, Livro I, Capítulo IX, diz Rousseau: “o pacto fundamental, em lugar de destruir a igualdade natural, pelo contrário substitui por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, todos se tornar iguais por convenção e direito.” (Rousseau, 1973, p. 45)
[4] Na sequência trataremos melhor do tema, mas adiantamos que quando falamos de valores e princípios de um Estado republicano, estamos falando de um Estado que se pauta e se orienta pela busca do bem comum a todos os seus indivíduos no âmbito da comunidade.
[5] Importante ter presente que quando falamos da vontade geral e da universalidade que ela expressa, não estamos falando de uma universalidade abstrata e generalista, mas sim de um universalismo que possui abrangência nos marcos em que é proposta. Neste sentido, conforme Maruyama, “a vontade geral só é geral em relação à comunidade contratante, em relação ao povo em questão, mas ela é particular do ponto de vista de outros povos.” (Maruyama, 2007, p. 235)
[6] A título de uma possível analogia ou identificação do conceito de Estado de direito a partir da obra política de Rousseau, parece-nos esclarecedor ter presente alguns aspectos da reflexão sobre o conceito feita por Simone Goyard-Fabre, na sua obra Os princípios filosóficos do direito político moderno. Apesar de a autora fazer uma analogia mais detalhada sobre o surgimento do conceito de Estado de direito (estado civil) e inclusive sobre a diferenciação que este conceito possui com relação ao conceito de Estado do direito (Estado legal), o que nos interessa aqui é ter presente que, a partir da obra política de Rousseau e do objeto posto em nosso trabalho, a interpretação que melhor define o conceito de Estado de direito e que é base para nossa dissertação parte de dois conceitos trabalhados pela autora assim postos: “O Estado de direito não parece ser um ‘regime político’, mas uma modalidade constitucional na qual se articulam a universalidade (ou, pelo menos, a generalidade) da regra jurídica e a singularidade da existência individual.” (Goyard-Fabre, 2002, p. 319) Ou ainda, o conceito de realização do Estado de direito que está atrelado à idéia de que “é preciso proteger as liberdades individuais contra qualquer forma de arbitrariedade estatal e represar todo apelo à ‘razão de Estado’. Em outros termos, o princípio básico do Estado de direito é a inalienabilidade dos direitos fundamentais reconhecidos ao homem”. (Goyard-Fabre, 2002, p. 322).
[7] Uma passagem que exemplifica e caracteriza o Estado de Direito pode ser observado no Contrato Social, Livro 2, capítulo 6, quando Rousseau trata da República, caracterizando-a como “todo Estado regido por leis, qualquer que seja a sua forma de administração, porque só então o interesse público governa e a coisa pública significa algo”. (Rousseau, 2006, p. 48)
[8] Que para Rousseau significa “uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes”. (Rousseau, 2006, p. 20)
[9] Importante ter presente que aqui estamos falando do homem civil enquanto cidadão e não do homem civil burguês do pacto do Segundo Discurso (ilegítimo) conforme bem o define Derathé na sua análise sobre o conceito de homem na obra de Rousseau, conforme segue: “Há dois tipos de homens civis bem diferentes um do outro: o burguês e o cidadão. O burguês é o homem civil do Segundo Discurso, o homem que vive na opinião dos outros e se aplica tanto à ‘parecer’, que ele, desta forma, perdeu o sentimento de sua própria existência (…). O Cidadão é também um homem civil, um homem desnaturado, mas um homem que as ‘instituições sublimes’ elevaram à virtude (…) (Derathé. 1984. pp. 111-112) Tradução nossa.
[10] Este aspecto está bem posto no Contrato Social, Cap. VI, Livro I, quando Rousseau diz que “cada um, dando-se a todos, não se dá a ninguém, e, como não existe um associado sobre o qual não se adquira o mesmo direito que se lhe cede sobre si mesmo, ganha-se o equivalente de tudo o que se perde e mais força para se conservar o que se tem. (…) Imediatamente, em vez da pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação produz um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da assembléia, o qual recebe, por esse mesmo ato, sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade”. (Rousseau, 2006, p. 22)
[11] Sobre este ponto dois comentários me parecem importantes e esclarecedores. Ao se referir à transição que eleva o homem natural à condição de cidadão, assim refere-se Cassirer: “Desse modo, porém, eles renunciam à independência do estado natural, à indépendance naturalle -, mas eles a trocam pela verdadeira liberdade que consiste na ligação de todos com a lei. E somente assim eles se tornaram indivíduos no sentido mais elevado, personalidades autônomas. Rousseau não hesita agora nenhum momento em elevar esse conceito moral da personalidade bem acima do mero estado natural. (Cassirer, 1999, p. 56) Da mesma forma, ao se referir às exigências da associação civil ao homem e ao objetivo dessas transformações ocorridas, afirma Strauss: “A sociedade livre pressupõe que os seus membros abandonaram a sua liberdade originária ou natural em favor da liberdade convencional, isto é, em favor da obediência às leis da comunidade ou às regras uniformes de conduta, para cuja feitura todos podem ter contribuído. A sociedade civil requer a conformidade ou a transformação do homem enquanto ser natural num cidadão. (…) Finalmente a sociedade livre é concretizada pela substituição da desigualdade pela igualdade convencional.” (Strauss, 2009, p. 221)
[12] Importante ter presente aqui que a instituição da associação civil ou do Estado de direito, ao valer-se das convenções como instrumento necessário para a validação e garantia dos direitos fundamentais aos homens e cidadãos, está absorvendo na sua concepção positiva também os direitos naturais. Sobre este ponto, o comentário de GOYARD-FABRE sobre as Declarações de direitos humanos a seguir parece ser esclarecedor: “Quando as Declarações norte- americana e francesa selavam o reconhecimento dos direitos de que o homem é portador, o sentido histórico e os objetivos políticos eram, aqui e ali, muito diferentes. Os Estados Unidos, fundamentalmente liberais, acreditavam, como a Inglaterra de Locke e de Hume, nos direitos naturais e nos interesses individuais. A França também aspirava à liberdade, mas ligada por sua história e por suas doutrinas políticas à idéia de lei, considerava, com Rousseau, que cabe ao Estado forçar o cidadão a ser livre. Também os homens de 1789 associavam à nobreza dos direitos naturais a eminente dignidade de direitos cívicos. Mais preocupados com direito político do que com ética, os redatores do texto de 26 de agosto de 1789, sem nunca negar as liberdades fundamentais inseridas na natureza humana, queriam sobretudo proclamar os direitos que a lei vincula ao sujeito de direito e que, como a integridade física da pessoa, a liberdade de expressão ou de circulação, a propriedade etc., são, para cada um na medida em que é igual a qualquer outro, inalienáveis e sagrados”. (Goyard-Fabre, 2002, p. 333). Importante ter presente que este comentário de Goyard-Fabre não se refere diretamente às idéias de Rousseau, mas sim dos revolucionários que leram Rousseau a seu modo.
[13] Cumpre dizer que a idéia de justiça em Rousseau, possui nuances distintas no âmbito da sua obra em geral, o que lhe confere uma complexidade enorme, e possibilita interpretações variadas. De nossa parte nos atemos aos aspectos ligados ao interesse da nossa pesquisa.
[14] Sobre esta perspectiva mais geral do conceito de justiça, o comentário de Dent, diz que Rousseau “fundamentalmente, sustenta que as regras de justiça emanam de Deus e estão implantadas na consciência de cada pessoa, embora possa exigir a criação do direito positivo para garantir a obediência a esses requisitos”. (Dent, 1996, p. 149)
[15] Para acentuar ainda mais a importância da lei como referência para a vida em diferentes sociedades, relembramos aqui um trecho do Prefácio, do Projeto de Constituição da Cóserga (1765), onde Rousseau assim expõe: “Há povos que, em quaisquer condições não podem ser bem governados, pois não se submetem às leis, e um governo sem leis não pode ser um bom governo”. (Rousseau, 2003b, p. 179)
[16] Sobre este aspecto o comentário de GOYARD-FABRE é claro ao afirmar que o ”estado de direito se caracteriza pela existência de regras e de normas de direito cuja finalidade original e fundamental é represar o desfraldar da violência e canalizar a torrente da espontaneidade”. (Goyard-Fabre, 2002, p. 320) E, ainda, ao afirmar que a idéia incisiva do Estado de direito é a de que “é preciso proteger as liberdades individuais contra qualquer forma de arbitrariedade estatal e represar todo apelo à ‘razão de Estado’. Em outros termos, o princípio básico do Estado de direito é a inalienabilidade dos direitos fundamentais reconhecidos ao homem”. (Goyard-Fabre, 2002, p.322)
[17] Sobre este aspecto já no Tratado Sobre a Economia Política Rousseau manifesta que “é somente à lei que os homens devem a justiça e a liberdade. Ela é esse órgão salutar da vontade geral que institui, no direito civil, a igualdade natural dos homens” (Rousseau, 2003a, p. 11)
[18] Cf. Rousseau, 2006, p. 21
[19] Cf. Rousseau, 2006, p. 26. Sobre este aspecto da relação entre a liberdade e a lei, conforme comenta CASSIRER, é importante ter sempre presente que para Rousseau, “liberdade não significa arbítrio, mas a superação e a exclusão de todo arbítrio. Ela se refere à ligação a uma lei severa e inviolável que eleva o indivíduo acima de si mesmo. Não é o abandono desta lei e o desprender-se dela, mas a concordância com ela o que forma o caráter autêntico e verdadeiro da liberdade. E ele está concretizado na ‘volunté générale’, na vontade do Estado. O Estado requer o indivíduo inteiramente e sem ressalvas. Ao fazer isto, não atua aí como instituição coerciva, mas apenas põe sobre o indivíduo uma obrigação que considera válida e necessária, e aprovando-a por isso tanto por causa dela mesma por sua própria causa.” (Cassirer, 1999, p. 55-56)
[20] Sobre este ponto o comentário de STRAUSS é claro ao afirmar que “a legislação pelo corpo de cidadãos do qual ninguém está excluído é, portanto, o substituto convencional da compaixão natural. Com efeito, o cidadão é menos livre no estado de natureza, já que não pode seguir o seu julgamento privado incondicionado, mas é mais livre do que o homem no estado de natureza, já que é constantemente protegido pelos seus concidadãos. O cidadão é tão livre quanto o homem no estado de natureza (original), já que, por estar sujeito apenas à lei ou à vontade pública ou à vontade geral, não está sujeito à vontade particular de qualquer outro homem.” (Strauss, 2009, p. 243)
[21] Neste sentido, conforme MARUYAMA, o que se configura pela tese contratual é que “não haveria direito propriamente dito se não houvesse uma relação de liberdade, igualdade e reciprocidade no sistema gerado pela tese contratual. É porque cada sujeito contratante se coloca doravante diante de outros membros da comunidade política enquanto pessoa moral, dotada de razão e liberdade, responsável pelas decisões públicas, vinculadas à vontade geral, que se torna possível a vida em comunidade baseada na idéia do direito.” (Maruyama, 2010, p. 06)
[22] Sobre o aspecto de como o indivíduo equaciona sua individualidade e os interesses da coletividade – aspectos estes fundamentais à formulação de uma teoria dos direitos humanos na modernidade – de forma a não gerar prejuízo ao indivíduo mediante a teoria da vontade geral, parece-nos que alguns tópicos pontuados por MARUYAMA são esclarecedores. Segundo a autora, “ainda que a associação política instaure entre os homens novas regras e valores, há princípios derivados da natureza original do homem que continuam a valer no estado de sociedade. (…) é acompanhando os progressos da natureza humana, as modificações das paixões e faculdades do espírito, tanto no indivíduo quanto na espécie, que se pode encontrar o melhor modo de conduzir a vida pública. Os interesses particulares e as paixões do indivíduo, que motivam a conduta do homem isolado do estado de natureza, não podem ser negligenciados, já que são também determinantes da conduta do homem na vida social, ainda que se manifestem, por vezes, contrários aos interesses do corpo coletivo. É também nesse ponto que a esfera pública e a esfera privada se encontram.” (Maruyama, 2001, p. 98-99)
[23] Sobre este aspecto cabe relacionar o comentário de Debrun quando afirma que “deve-se evidenciar no conteúdo da lei que qualquer um tem a possibilidade concreta, e não apenas teórica, de ingressar nas situações que ela prevê e de sofrer conseqüentes sanções favoráveis ou desfavoráveis. Em outros termos, a lei deve ser tal que ela se torne o centro das preocupações de todos. Isto não quer dizer que o terror e a inquisição devem reinar em permanência, e sim apenas que cada um deve experimentar a lei como o seu horizonte familiar, por ele constituído e a ela destinado”. (Debrun, 1962, p. 45)
[24] Segundo CASSIRER, no Contrato Social de Rousseau, “Estado e indivíduo devem se encontrar mutuamente; devem crescer e vir a ser um com o outro a fim de se associarem daí em diante de maneira indissolúvel nesse crescimento conjunto”. (Cassirer, 1999, p. 64) Sobre este mesmo aspecto no Capítulo I, Livro II, do Contrato Social Rousseau afirma que: (…) “só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado em conformidade com o objetivo de sua instituição, que é o bem comum: pois, se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que o tornou possível. O vínculo social é formado pelo que há de comum nesses diferentes interesses, e, se não houvesse um ponto em que todos os interesses concordam, nenhuma sociedade poderia existir. Ora, é unicamente com base nesse interesse comum que a sociedade dever ser governada.” (Rousseau, 2006, p. 33)
[25] Conforme Rousseau a verdadeira tarefa fundamental do Estado é “substituir (…) por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, e, podendo ser desiguais em força ou em talento, todos se tornam iguais por convenção e direito” (Rousseau, 2006, p. 30) Sobre este ponto a interpretação de Cassirer mostra-se muito coerente com a perspectiva da exigência da superação da situação de desigualdade moral e política entre os indivíduos como fundamento a construção de uma teoria dos direitos humanos universal em Rousseau. Segundo o autor “em parte alguma o Estado é concebido em Rousseau como mero Estado de bem-estar social; para ele o Estado não é simplesmente o ‘distribuidor da bem-aventurança’ (…). Por isso, não garante ao indivíduo a mesma proporção de bens, mas assegura-lhe exclusivamente a proporção equilibrada de direitos e deveres (…) Rousseau não se rebela contra a pobreza como tal; na verdade, o que ele combate e o que ele persegue com crescente exasperação é a privação dos direitos morais e políticos: uma conseqüência inevitável na atual ordem social”. (Cassirer, 1999, p. 60-61)
[26] Importante ter presente que para Rousseau o conceito de democracia conforme ele o destaca no Capítulo IV, Livro III, do Contrato Social, é, em sentido estrito, uma forma de governo aplicável ou adequada em diferentes repúblicas, assim como o são também a Aristocracia e a Monarquia. Contudo, isto não significa que seu pensamento não seja inspirador e que tenha contribuído de forma direta na formulação e construção da teoria democrática moderna e contemporânea, sobretudo se tomarmos o conceito de soberania popular, como conceito/valor fundamental, sem o qual torna-se difícil a tarefa de se construir sociedades verdadeiramente democráticas. Logo, embora tenhamos claro que quando Rousseau trata de forma direta do conceito de democracia, ele esteja falando de regime/forma de governo, a leitura do conceito de soberania popular tal como tratado por Rousseau, no qual a participação direta dos membros da comunidade na definição das leis gerais e comuns é condição primeira, nos permite averiguar que há na teoria política do genebrino, elementos políticos característicos e que estão na base das Repúblicas democráticas contemporâneas. Ciente destas distinções, este último aspecto será também incorporado a esta reflexão, sobretudo a partir do item 2.1, quando tratamos do aspecto da soberania popular.
[27] Sobre este ponto há uma frase atual e já celebre de Bobbio que diz que “o problema fundamental da filosofia em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político.” (Bobbio, 1992. Pág. 24)
[28] Sobre este aspecto o comentário de Coutinho é feliz ao afirmar que “não é possível entender de modo adequado o pensamento de Rousseau se não for levado em conta que o seu conceito de legitimidade – tal como o dos gregos e ao contrário do de Locke e dos liberais – refere-se ao conjunto da ordem social e não apenas ao seu nível especificamente político. A legitimidade proposta por Rousseau é uma legitimidade quanto aos conteúdos e não somente quanto aos procedimentos. (Coutinho, 2011, p. 30)
[29] Sobre este tema dos regimes de governo, após anunciar as formas clássicas (Democracia, Aristocracia e Monarquia), no final do Capítulo III, Livro III, do Contrato Social, Rousseau assim conclui: “Muito se discutiu, em todos os tempos, sobre a melhor forme de governo, sem levar em consideração que cada uma delas é a melhor em certos casos e a pior em outros”. (Rousseau, 2006, p. 82).
[30] Ou ainda, fazendo um paralelo à Rousseau, segundo Habermas, a caracterização do republicanismo como oposição ao liberalismo, passa por uma compreensão de que “a política não se esgota na função de mediação. Ela é um elemento constitutivo de formação da sociedade como um todo.” (Habermas, 1995, p. 40) Nesta concepção, (…) “a justificação da existência do Estado não se encontra primariamente na proteção dos direitos subjetivos privados iguais, mas sim na garantia de um processo inclusivo de formação da opinião e da vontade políticas em que cidadãos livres e iguais se entendem acerca de que fins e normas respondem ao interesse comum de todos”. (Habermas, 1995, p. 41) Ou ainda, numa compreensão que a nosso ver possui proximidade com a perspectiva rousseauísta de que “é a concepção republicana que revela afinidade com um conceito de direito que outorga à integridade do indivíduo e às suas liberdades subjetivas o mesmo peso atribuído à integridade da comunidade cujos membros singulares têm como reconhecer-se reciprocamente, tanto como indivíduos quanto como integrantes dessa comunidade. Pois a concepção republicana vincula a legitimidade da lei ao procedimento democrático da gênese dessa lei, estabelecendo assim uma conexão interna entre a prática da autodeterminação do povo e o império impessoal da lei.” (Habermas, 1995, p. 42)
[31] Fazendo alusão ao aspecto do caráter geral que deve abranger as constituições na sua origem e também ao seu papel de contenedora de todas as formas de arbitrariedades, segundo Goyard “como quiseram os homens da Revolução Francesa, a Constituição de um Estado moderno é um baluarte contra os riscos de arbitrariedade e de absolutismo, considerados logicamente como sinais do desatino que acompanha, como sua sombra, a individualização do poder. Nos termos do texto constitucional, o poder dos governantes existe apenas na razão da investidura que receberam, e só pode ser exercido nos respeito às regras enunciadas pela Constituição”… (Goyard-Fabre, 2002, p. 351)
[32] Embora não haja contestação sobre o fato de que a soberania reside originariamente no povo, “segundo Grotius, Pufendorf, Barbeyrac e Burlamaqui, sem falar de Jurieu, isso não quer dizer que este direito não possa, em virtude de um contrato, mudar de titular, nem que o povo deva necessariamente conservar para si mesmo o exercício da soberania. Ocorre com a soberania do povo como com a liberdade do indivíduo. Ela pode ser alienada se as circunstâncias o exigem e se isso é vantajoso para o povo. Para que tal alienação seja legítima, basta que o povo nela consinta”. (Robert Derathé, 2009, p. 371-372)
[33] “Digo, pois, que a soberania, sendo apenas o exercício da vontade geral, nunca pode alienar-se, e que o soberano, não passando de um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo; pode transmitir-se o poder – não, porém, a vontade” (Rousseau, 2006, p. 33)
[34] Para Rousseau este aspecto é fundamental, pois para ele “a essência do corpo político está na concordância entre a obediência e a liberdade”. (Cf. Nota 16. Rousseau, 2006, p. 172) (A nota referida conforme o Editor da presente obra de Rousseau, é de J.M. Fateaud e M.C. Bartholy, traduzida e adaptada por Maria Ermantina Galvão G. Pereira).
[35] No caso de Rousseau, onde o povo é ao mesmo tempo legislador (soberano) e destinatário das leis (súdito), a lei é resultado do poder popular, isto é, da vontade livre dos cidadãos.
[36] Neste sentido, no Cap. IV (sobre os limites do poder soberano), do Livro II, do Contrato Social, Rousseau vai dizer que o ato da soberania, “não é uma convenção do superior com o inferior, mas uma convenção do corpo com cada um de seus membros: Convenção legítima porque tem como base o contrato social, equitativa porque comum a todos, útil porque não pode ter outro objeto senão o bem geral, e sólida porque tem por garantia a força pública e o poder supremo. Enquanto os súditos só estiverem submetidos a tais convenções, não obedecem a ninguém, mas apenas a sua própria vontade; e perguntar até onde se estendem os respectivos direitos do soberano e dos cidadãos é perguntar até que ponto estes podem comprometer-se consigo mesmos, cada um com todos e todos com cada um. Vê-se, assim, que o poder soberano, por mais absoluto, sagrado e inviolável que seja, não ultrapassa nem pode ultrapassar os limites das convenções gerais” (…) (Rousseau, 2006, p. 41-42)
[37] Segundo a autora, esses eram os termos de J. L. Talmon, em Los Origenes de La democracia totalitária (México; Aguillar, 1956)
[38] Como crítica à uniformidade como decorrência natural da vontade geral, também URIBES assim a contesta: “Que la voluntad general deba ser unánime no es uma exigencia constitutiva o definitoria de la misma. Es um anhelo político que se convierte em pesadilla cuando no es fruto de la libre voluntad de los ciudadanos e partir de ciertas exigencias de racionalidad aunque sean básicamente formales. (…) Esto no debe confundirse, (…) com ninguna proclama a favor de la uniformidad social o de la unidad de critério para la acción política si no es resultado del debate libre y público. Bien al contrario, Rousseau condena, como se há visto, la sociedad de su tiempo en la que el propio gênio, la independencia y la identidad personal brillan por su ausência resultado de la acción, de la influencia, de uma opinión pública minoritária, interesada y homogeneizadora”. (Uribes, 2001, p. 278)
[39] Referindo-se ao conteúdo da obra O Contrato Social.
[40] Esta perspectiva pode ser evidenciada em Rousseau nas seguintes passagens: “Não há no Estado nenhuma lei fundamental que não se possa revogar, nem mesmo o pacto social” (Rousseau, 2006, p.121-122). Também, cita que: “Em qualquer situação, um povo é sempre senhor de mudar suas leis, mesmo as melhores.” (Rousseau, 2006, p. 65).