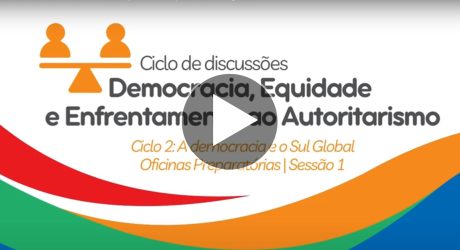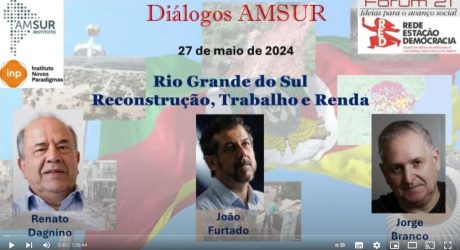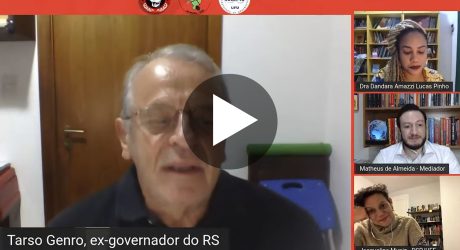Importa pensar sobre o que pensamos para pensar; importa quais histórias contamos para contar outras histórias; importa quais nós fazem nós, que pensamentos pensam pensamentos, que descrições descrevem descrições, que laços amarram laços. Importa que histórias fazem mundos e que mundos fazem histórias.
(Donna HARAWAY, 2016, p. 12)
Outro longo e mortal jogo começou. O principal choque da primeira metade do século XXI não será entre religiões ou civilizações. Será entre a democracia liberal e o capitalismo neoliberal, entre o governo das finanças e o governo do povo, entre o humanismo e o niilismo. […] Em seu núcleo, a democracia liberal não é compatível com a lógica interna do capitalismo financeiro.
(Achille MBEMBE, 2017)
A contribuição que segue busca os acumulados críticos dos movimentos políticos populares do Sul Global, considerando as experiencias democráticas nacionais e também nos espaços multilaterais a fim de encontrar elementos de análise-diagnóstica para fazer frente aos retrocessos autoritários e às dificuldades para promoção da igualdade/equidade e dos direitos humanos. O exercício quer refletir os limites e as potencialidades das alternativas democráticas vindas das experiências pluriversais, com particular atenção para a qualidade das proposições emergentes, a fim de considerar sua força insurgente, transformadora e articuladora de novas possibilidades para o fortalecimento da democracia, a efetivação da igualdade/equidade e a realização dos direitos humanos. Finaliza-se com um conjunto de propostas que sugerem horizontes para a realização das democracias com direitos humanos e igualdade/equidade (no mundo e no Brasil) no século XXI.
Inspirações literárias…
As Cidades Invisíveis (1972), de Ítalo Calvino, traz o diálogo entre Marco Polo e Kublai Kahm que se segue. O grande Kahm diz: “– Entretanto, construí na minha mente um modelo de cidade do qual extrair todas as cidades possíveis”. Segue: “– Ele contém tudo o que vai de acordo com as normas. Uma vez que as cidades que existem se afastam da norma em diferentes graus, basta prever as exceções à regra e calcular as combinações mais prováveis” (1990, p. 67). Em resposta Marco Polo sugere: “– Eu também imaginei um modelo de cidade do qual extraio todas as outras”. E segue: “– É uma cidade feita só de exceções, impedimentos, contradições, incongruências, contrassensos. […]” (1990, p. 67).
Grande Sertão, Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, dizia que quem fica entretido nos lugares de saída ou de chegada nada vê no meio da travessia. Mais, se “Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (ROSA, 1994, p. 86), então, o risco é de, por apegar-se demais à saída ou à chegada, não se situar adequadamente no meio da travessia e, dessa forma, ter mais dificuldade de achegar-se à realidade. Ora, quem se propõe à travessia é como quem “[…] quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou” (1994, p. 43).
É isto um homem? (1958), de Primo Levi, diz: “[…] mas ainda nos resta uma opção. Devemos nos esforçar por defendê-la a todo custo, justamente porque é a última: a opção de recusar nosso Consentimento” (1988, p. 55) como denúncia dos falsos processos participativos e de tudo o que destrói a humanidade e os processos de humanização.
Nossa expectativa é, com Henri Lefebvre, “abrir o pensamento e a ação na direção da possibilidade” (2001, p. 9), colocando-se “em travessia”, visto que não se tem e nem se poderá ter todas as respostas, até porque nem se tem todas as perguntas, e o real “se põe” (não somos nós que o colocamos) “é no meio da travessia”, em processo, permanente. E este processo podes ser orientado ao modo Kahm ou ao modo Marco, ou seja, desde um modelo pronto, aderindo a um sistema, o propondo-se em abertura inclusive a romper modelos, enfrentar sistemas. Assim, a construção é bastante ensaística. Há muitos subsídios e referências utilizados, nem sempre diretamente citados, todos contemplados na lista final, de algum modo.
Teses fundamentais para referenciar …
Uma sociedade democrática que se assume como experiência de construção histórica no cotidiano da vida dos sujeitos e sujeitas que dela são participantes e estão em disputa nos processos nos quais é vivida é uma sociedade democrática no profundo sentido substantivo (para além do formalismo das regras liberais do jogo), aquela que sabe lidar com as exceções, os impedimentos, as contradições, as incongruências, os contrassensos. Trata-se do exercício do poder “sobre” e de suas possibilidades, mas está muito mais além, pois também pode tratar do exercício do poder “de”, como fortalecimento das potências que conformam modos de vida e formas de convivência. Por isso, democracias não são absolutos dados, mas processos políticos em construção que também hão de ser democráticos – não se faz democracias com políticas antidemocráticas (o que parece óbvio, mas não é).
Na sua origem grega – que de per si já era circunscrita a poucos, visto que não era possível a mulheres e escravizados – a democracia significou poder àqueles que não estavam aptos a ele – já que destinado aos bem nascidos, aos melhores (os “aristói”) –, o “demos”, o que hoje se diria os “réles”, os que não teriam a “titularidade” para governar, o “povo” (no sentido de comunidade, “polis”), que passaria a ocupar um espaço não destinado a ele – para participar não precisa de um título ou encargo específico. Indica que não se trata de uma soma de participantes, mas a superação de todas as exclusões que fazem manter “restos”, estando na sua a denúncia de uma injustiça constitutiva (ainda que tenha convivido com outras injustiças como a que não incluiu mulheres e escravizados) que não se deseja ver persistir, mas se sabe que seguiu e segue persistindo (por séculos). Neste sentido, a proposta democrática carrega uma abertura vigilante de “denúncia”. No “âmago” constitutivo da vida política está a luta e, sem ela, não há política e, nem democracia, de modo que se poderia dizer que a democracia não “deveria” ser uma forma particular de política, mas a razão de ser da política como poder coletivo que não pode ser ameaçado por nenhuma forma de autoridade fundada em qualquer tipo de superioridade, hierarquia ou exclusão. O contraditório é que, ainda que carregue esta força, se viu historicamente convivendo com elas e, por vezes, institucionalizando-as, até formalmente – de modo que a igualdade diante da lei é ainda não necessariamente o cumprimento da promessa originária da democracia.
Os direitos humanos são conquistas da luta daqueles e daquelas cujos direitos não são reconhecidos, que não têm seus direitos realizados ou que estejam sendo violados. São um processo permanente de criação, de formalização, de implementação. O fato de terem sido incorporados a instrumentos jurídicos vinculantes ou declarativos internacionais ou nacionais é também parte deste processo. É parte do processo democrático o processo de realização dos direitos humanos em sua universalidade, indivisibilidade, interdependência e diversidade, conforme afirmado na Declaração e Plano de Ação da Conferência de Viena (1993), assim como são parte dele todos os embates e denúncias quando isso não vier a ocorrer. Esta perspectiva aponta para a superação de visões geracionais e positivistas de direitos humanos – que por vezes seguem separando direitos humanos de direitos fundamentais ou de cidadania, por exemplo – que insistem em supervalorizar dimensões jurídicas em detrimento das dimensões políticas, éticas e pedagógicas. A dinâmica democrática há de combinar esta diversidade de perspectivas para fazer avançar a materialização concreta dos direitos.
Os direitos humanos alcançam realização na concretude da vida das pessoas, na materialização como bens em comum “inapropriáveis” por não poderem ser disponíveis para serem apropriados privadamente por quem estiver em melhores condições, mas como o que responde da melhor maneira ao que precisam os/as “sujeitos/as necessitados/as”. Os diretos são comuns a todos e todas e não admitem qualquer tipo de hierarquização, superposição ou discriminação. Também não admitem postergação, como forma de ludibriar a pressão para aceitar retrocessos. Isso faz com que se exija estreito diálogo entre direitos humanos, democracia e equidade/igualdade e diversidade. Não há um único modo de realizar os direitos humanos porque se trata de acolher as diversidades e incidir concretamente para prover a igualdade por medidas de enfrentamento da desigualdade e de efetivação da equidade.
A diversidade das experiências construídas desde as práticas de organização e de luta popular do Sul Global oferece significativa contribuição ao debate a respeito da democracia para além de sua construção liberal. Uma questão de “justiça epistêmica” (Fricker, 2023) está implicada em todo este debate, visto que, para boa parte do establishment, as vozes desta parte do mundo não são legitimamente reconhecidas e, quando o são, ainda, subalternizadas pelo colonialismo vigente. Assim que, um dos primeiros grandes desafios para um efetivo diálogo está na construção de espaços justos nos quais cada sujeito e cada sujeita não seja desconsiderado/a por qualquer tipo de hierarquia e que sua participação seja parte de um processo de acolhimento. A denúncia destas injustiças é ponto determinante como condição para que a materialidade da democracia possa ser efetivamente vivida nos mais diversos espaços.
Uma “mirada” desde o Sul Global sugere tomar em conta os seguintes aspectos: a) movimentos socias são agentes da ação coletiva promotora de conflitos por confrontarem realidades desumanizadoras e excludentes e por proporem alternativas; b) as transformações necessárias por eles propostas são processuais e complexas, não lineares e progressivas, e reconhecem que, assim como podem haver avanços, também são possíveis retrocessos; c) os processos ocorrem em universos muito mais amplos do que aqueles circunscritos às institucionalidades, por mais alargadas e porosas que estas sejam, ocorrendo articulados a processos insurgentes, instituintes, que se alimentam das e alimentam as potências.
Exercitando uma análise-diagnóstica…
A escolha por olhar e fazer a construção desde as experiências do Sul Global não é um simples aceite corroborativo de tudo o que aparecer, até porque, as propostas se apresentam como parte de um processo de construção crítico e criativo, portanto, suscetível de confrontação e contestação. As posições não estão dadas por aceitas de partida, mas estão abertas ao processo dialógico de construção democrática, sem o que deporiam contra o que defendem. Nestes processos há construções que estão colocadas no sentido de apontar perspectivas outras, diferentes daquelas que soem ser canônicas para as democracias liberais.
Os acumulados críticos dos movimentos do Sul Global a respeito das crises democráticas nacionais e também dos espaços multilaterais e dos retrocessos autoritários e a respeito das dificuldades para a garantia dos direitos humanos e de políticas de justiça com equidade são bastante significativos e, ainda que se pretendesse, não nos seria possível esgotar um mapeamento. Nos restringimos a trabalhar alguns deles, como segue.
Crescente privatização do comum, da política e do Estado: os bens em comum são capturados pela persistência de dinâmicas “desenvolvimentistas” de “acumulação infinita”, de consumismo acumulador, de colonialismo e de “hipercolonialismo” (que inclui o extrativismo dos recursos mentais) típicas das lógicas do capital que inviabilizam os direitos humanos, a política, a democracia, reforçam as desigualdades e o desrespeito às diversidades. As crises ambientais, climáticas, energéticas são sintomas deste esgotamento, mas ainda não surtem efeitos objetivos para além das reações de “adaptação” do capitalismo verde, de “longoprazismo”, entre outras, que não trabalham com possiblidades alternativas concretas. Segue forte a cisão com a natureza e a hierarquização que a faz submissa (como denuncia Kopenawa, 2015), situação que, certamente, está na base de uma relação ainda inconsequente e irresponsável em termos ecológicos. Há também crescente captura corporativa dos espaços públicos, dos Estados, com cada vem mais controle das corporações sobre sua ação, quando não de constrangimentos à sua atuação (Oxfam, 2018, 2024). Um exemplo disso é a crescente diminuição do “monopólio do uso legitimo da força” pelo estado (tese weberiana) e o crescimento da segurança privada (mercado que chega a cerca de US 250 bi) com as forças privadas representando contingentes cada vez mais significativos do que as estatais (nos EUA, por exemplo, de 3 para 2, na África do Sul, de 4 para 1, no Brasil, de 5 para 1), sem contar com o aumento dos controle privados das instituições policiais públicas, o aumento da violência das forças institucionais, o descontrole crescente das forças de segurança públicas e privadas, o aumento do crime organizado e da “Segunda Realidade” (Segato, 2014) e das milícias, que controlam comunidades populares e sua convivência social e política.
Democracia x capitalismo, racismo, patriarcado… colonialismo: o debate acerca da relação entre democracia e capitalismo é amplo e intenso com posicionamentos os mais diversos no sentido da possibilidade de convivência ou mesmo até de coimplicação. Nos tempos neoliberais da financeirização do capitalismo parece ficar cada vez mais perceptível a dispensa da democracia ou pelo menos sua intensa manipulação. As formas de exercício do poder de forma autoritária e totalitária aparecem sob novas dinâmicas nem sempre consequentes de “golpes de velho tipo” e bastante marcadas por novas formas de fascismo cada vez mais intensas. O que se assiste é um recrudescimento de formas racistas, patriarcais e colonialistas de poder, por vezes reforçadas por dentro de democracias formalmente mantidas – uma “dívida impagável” particularmente para corpos racializados (Silva, 2024). As forças do poder atual não aceitam ter que lidar com a incerteza do processo democrático, mesmo aquele formal e liberal… sobretudo quando os resultados não lhes convierem ou forem distributivos. A intensidade das dinâmicas democráticas, quando mantidas, são reduzidas ao mínimo de intensidade (Sousa Santos, 2016), combinando-se com a manutenção de relações assimétricas e hierárquicas. Nem mesmo os sistemas políticos e eleitorais são aceitos, sendo atacados por representarem controles sistêmicos que poderiam inviabilizar o avanço das expectativas de setores de extrema-direita. Assim, a convivência entre capitalismo e democracia parece ter sido dispensada sob vários aspectos.
Reforço do individualismo concorrencial: o neoliberalismo produziu indivíduos forçados a se ocupar somente de si próprios, da sua própria sobrevivência, incapazes de formar laços de solidariedade com outros, produzindo uma “sociabilidade” competitiva (guerra social). O sucesso é produto do empresariamento da própria subjetividade (Dardot e Laval, 2016). O que é público, o comum, o coletivo, não interessa e nem pode despertar qualquer tipo de possibilidade que não seja para fortalecer os indivíduos. O exemplo do bem-sucedido, do que tem sucesso, do que deu certo, do self-made man, serve de inspiração para os demais. O coach e o influencer substituem a liderança comunitária, que é seguida pelo exemplo e pelo testemunho, para os quais importam a performance, a visibilidade, os likes, numa disputa permanente pela atenção que gera “engajamento” (uma palavra que mudou totalmente de sentido), fragmentado em memes acelerados. No reverso, aumenta a ansiedade e a depressão, transtornos que são a principal causas de incapacitação para o trabalho no pós-pandemia, visto que o/a trabalhador/a já não dá conta da performance, do desempenho e das entregas, ao que se soma a “ecoansiedade” ante as crises ambientais e climáticas, entre outros fatores. A produção do ressentimento emerge como resposta política à humilhação sofrida pelos que ficaram “abandonados” (os “bastardos”, como chama Souza, 2024), os oprimidos que defendem formas de opressão (“pobres de direita”).
Excesso de informação e baixa compreensão: o pós-moderno encontrou o neoliberalismo com grande apoio das tecnologias da informação para gerar um contexto no qual há uma superabundância de informação controlada por mecanismos de inteligência artificial que produzem distorções na compreensão e no posicionamento sobre temas políticos. Cresce a dificuldade de estabelecer significados mais amplos, em razão da desconexão, da fragmentação, da superficialidade, ua “era das narrativas” (storytelling) que já não precisam ter qualquer relação com a realidade, visto serem relatos que se bastam a si mesmos e se afirmam pela acusação da falsidade de quem se opõe a eles, pura e simples. O sentido da liberdade de expressão está sendo redesenhado e em disputa, levando por vezes a confundir “opinião” de bots ou de algoritmos com liberdade de expressão e até com direito de participação, numa “metapolitização” da política e da democracia. Compreensões e significados significativos com nexos causais e percepção de relações e consequencialidades são cada vez mais difíceis. Contraditoriamente, enquanto a realidade fica mais complexa, perde-se em complexidade nas formas de entender o que acontece e cresce a “simplorificação”. Há também um seletivismo no que diz respeito à memória histórica dos crimes da “civilização”, do colonialismo e das ditaduras, e inclusive das práticas violadoras de empresas e empreendimentos, enfraquecendo a memória e a reparação como elementos determinantes da justiça de transição. A elas se soma o uso de “sequestros semânticos”, de “bricolagem ideológica e política”, de “parasitismo ideológico”. Uma certa “hibridização” (a exemplo do “feminacionalismo”, “homonacinalismo”, “ecofascismo”) produz “confusão conceitual” e de posicionamentos políticos. As propostas, as pautas, as agendas, as lutas dos setores populares são capturadas por setores conservadores que as fagocitam e devolvem em posicionamentos que, ainda que não incorporem o sentido profundo neles propostos, pinçam aspectos e os apresentam como se com eles mantivessem relação.
O grotesco destrutivo: há uma crescente ascensão da barbárie como modo de fazer política que se soma ao “discurso de ódio” que faz da violência direta um ativo político ou então faz do ridículo, da baixaria, do escárnio, da grosseria, do besteirol, do espalhafatoso, do bullshit (charlatanismo manipulador), recursos para polarizar e gerar beligerância. É a figura do idiota estúpido – não é o “idiota” ao modo Bartleby, que é o que insurge e mostra fissuras com irreverência e até subversão –, do destemperado, do ensandecido (Bolsonaro, Milei, Jonhson, Trump, Nikolas, Marçal, são exemplos), capaz de agenciar a raiva “antissistêmica” genérica e revoltosa e de fazer a mobilização de “afetos intensos” e pungentes. Há como que um certo “rompimento da civilidade” e do decoro, sendo que, em termos políticos, haveria uma transição de “povo” para “público”, “plateia”, “seguidores” – o que é potencializado pelas redes sociais – numa espécie de “psicopolítica”. Soma-se a tudo isso o ataque a grupos sociais (mulheres, negros, LGBTI+, entre outros), invertendo o ônus: é como se os agressores fossem as vítimas, fazendo a promoção do “ódio ao inimigo”, mobilizadora de um sentimento de injustiça ressentido e reativo (“alegrias da depreciação do outro”) e da “autodepreciação”. É o avanço do “brutalismo libertário” (“liberdade para ser brutal”) que faz a assunção da perversão, da selvageria competitiva naturalizada como práticas recomendáveis (“na luta pela vida quem não estiver à altura dela, deve morrer”) (Berardi, 2024).
Extrema direita usa a democracia: o abraço íntimo entre liberalismo e extrema direita compromete a democracia com a destruição do bem-estar social (Estado deixou de proteger pobres), aumento de gastos com aparatos de segurança para controle das populações, disputa para reduzir presença da “esquerda” nas instituições – “guerra cultural” permanente –, entre outras medidas. A extrema direita usa de vários instrumentos oferecidos pela “democracia” (ainda que não de forma democrática) até onde lhe convém: produz desgaste do Estado e a transferência de funções públicas para o privado, usa aparato repressivo para silenciar críticos, usa da violência de modo “controlado” para obter resultados, oferece uma “vida comunitária” falsa mobilizada pelo ódio aos diferentes, usa mídias para “normalizar” seu discurso, busca se enraizar nas organizações mais cotidianas das pessoas, ataca as instituições mas delas se utiliza, tem forte rede internacional de articulação, ainda que com diferenças entre a do Norte e do Sul.
Retrocessos, ataques, inversão e corrosão dos direitos: os direitos humanos, desde que foram promulgados no pós-segunda guerra, pelas Nações Unidas (1948), estão sob ataque e em permanente processo de disputa, seja para avançar em sua efetivação, seja para não serem realizados. Há retrocessos significativos nos espaços multilaterais como, por exemplo, a crescente objeção a temas de direitos sexuais e reprodutivos e aos temas de gênero nos documentos de direitos humanos. O assistente do secretário geral da ONU já chegou a falar de “backlash” nos direitos humanos (Gilmour, 2018). O que se tem observado é também um processo de inversão dos direitos humanos, que não é novo, visto que os movimentos privatistas sempre resistiram a garantir direitos e insistem em avançar tornando direitos em mercadorias (Hinkelamert, 2003). Este processo tem sido ampliado e intensificado nos últimos anos, sobretudo para o caso de direitos civis, particularmente no que diz respeito à manipulação do direito à liberdade de expressão, por exemplo. Uma das formas mais devastadoras que tem sido vivida são os processos de corrosão dos direitos humanos, inclusive de corrosão das institucionalidades, mantendo-as “ocas” ou manipuladas para ação seletiva em direitos humanos. As dificuldades de desenvolvimento da atuação integral em direitos humanos com incidência complementar e articulada na promoção, na proteção e na reparação fica cada vez mais prejudicada com medidas funcionalizadas e socorristas (Carbonari, 2020).
Possibilidades de “novos sujeitos políticos”: a questão é saber se a inteligência artificial pode gerar “agentes autônomos” ou mecanismos de agenciamento que se autonomizam em relação aos controles humanos. A linguagem, que historicamente serve de recurso de convencimento, como um recurso humano, gradativamente passa às tecnologias de inteligência artificial, que dominam em certos aspectos, a linguagem melhor que a média dos humanos, formulam textos, imagens: mas será que são/serão capazes de produzir plataformas políticas? Criam também os meios para disseminar, atingindo a extensões sem precedentes. Os algoritmos moldam a política, a cultura e a sociedade (Harari, 2024) – eles já matam pessoas (Myanmar). Isso tudo indica que estas novas tecnologias criam impedimentos à comunicação, inclusive por incluir vozes não humanas com graves consequências às democracias, fazendo ficar cada vez mais difícil as pessoas se entenderem sobre temas mínimos. As redes sociais não são somente novos “aparelhos ideológicos”, substitutivos dos antigos (o rádio ou a TV), eles transformam significativamente a forma de fazer política (a forma determina o conteúdo) visto serem significativamente controladas por algoritmos, bots/robôs e a “inteligência artificial”, todos eles controlados pelos “donos” das plataformas. As democracias estão desafiadas a não só lidar, mas a enfrentar os “controles” destas tecnologias, se não quiserem ser controladas por elas.
Riscos e possibilidade para autodeterminação: a participação de povos e comunidades tradicionais, em geral alvo de medidas colonialistas e de expropriação, ainda que protegidas pela Convenção OIT 169, estão em situação de risco pelas ações predatórias de mercado e precisam de ação protetiva do Estado, não para controlar e impor-lhes medidas, mas para colaborar, compartilhar, para que sejam protegidas. No caso da participação autônoma das experiências comunitárias populares, especialmente as urbanas, o risco que aparece é o do controle das milícias, do crime organizado, que, por vezes, leva ao extremo de gerar constrangimentos que produzem “vidas matáveis” ou “não passíveis de luto” (Butler, 2016). Além destas situações, há a presença de atividades religiosas neopentecostais orientadas pela “teologia do domínio” e a “teologia da prosperidade” que estabelecem, por diferentes meios, dinâmicas de controle sobre as comunidades e a expressão de sua vontade política em processos eleitorais. Este conjunto de processos de controles difusos e “paraestatais” geram implicações bastante problemáticas para a autodeterminação das comunidades no exercício de sua vida política e para o exercício das liberdades e a efetivação da democracia.
Alternativamente a estes processos agonísticos que colocam em risco as populações, as comunidades, os grupos subalternizados, os/as “ninguéns” (Galeano, 2015), os/as “condenados da terra” (Fanon, 1968), os/as “esfarrapados do mundo” (Freire, 1983), elas se juntam para dizer que “el mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos” (EZLN, 1996), que “um outro mundo possível” (FSM), construindo alternativas que são fundamentais para produzir possibilidades outras. Registramos algumas.
Organização política criativa: as dinâmicas de organização social e política como “auto-organização” (não necessariamente autogestão) autônoma e independente, sem controles hierárquicos externos, existem e ocorrem desde o momento em que há agir conjuntamente, ação coletiva, “potência coletiva de agir”. As pessoas se organizam por diferentes finalidades, em diferentes contextos e com diversas formas da ação (fins, meios, recursos, contextos e modos de ação são variáveis), sendo que são tanto as formas que são variadas quanto os graus, que são variáveis. Há pluralidade e não uniformidade nem univocidade a respeito do que significa organização política que vão desde formas mais transitórias e informais até outras mais permanentes e estruturadas (Nunes, 2023). Há diferença entre auto-organização e autogestão – a autogestão existe em formas organizativas constituídas com mecanismos de tomada de decisão; a auto-organização está num grau de maior espontaneidade com mecanismos ainda não bem definidos; ainda que distintos, podem conviver. Importante observar que também há diferentes graus de centralização e descentralização, de unificação e dispersão. Nestes processos de organização e mobilização é que podem se acumular forças e realizar pressão para produzir modificações nas decisões “desde baixo”, insurgentes, instituintes, efetivamente participativos. No entanto, estes processos de transformação social encontram dificuldades de convivência em democracias excessivamente formalizadas e normativizadas, visto que, se relações sociais produzirem mudanças que forem mais rápidas do que a ordem existente pode absorver, gera-se “instabilidade”, sendo que a reação pode ser de absorver, cooptar ou reprimir (todas formas conservadoras). Isso indica que, para quem quer mudanças em contextos democráticos, exigem-se perspectivas de “negociação” mais do que de ruptura, ficando bastante limitada a capacidade insurgente e as transformações haverão de ser feitas “não de uma vez”, de modo que, tanto reformistas quanto revolucionários, salvas as intensidades com as quais trabalham, estão desafiados a lidar com movimentos e processos mais ou menos dinâmicos, combinando ataque e defesa, ruptura e negociação, conquista e consolidação, potência e potestas. Isso tudo faz com que os momentos de mediação sejam constituídas institucionalidades que poderão durar ou não, a depender da profundidade das transformações de que são resultados. Assim, processos democráticos são possibilidades de transformações para a promoção da redistribuição (igualdade), do reconhecimento (diversidade) consolidando direitos, dependerão de serem vinculados ao grau de participação (em sua intensidade, profundidade, extensão). Tudo, no entanto, sempre correndo o risco – e parece não haver alternativas possível – da absorção, da cooptação ou até da derrota. Muitas experiências concretas mostram que, ainda que com limites, uma das virtudes democráticas é abrir a possibilidades, até mesmo aquelas que nalgum momento podem parecer impossíveis. Neste sentido, uma das principais possibilidades da vida democrática é a construção das mais diversas formas, modos e dinâmicas organizativas, de mobilização, de formação, de ação coletiva que são geradoras de agendas, pautas, demandas, e se concretizam em processos de transformação desde dentro e desde baixo, o que seria certamente muito mais difícil, senão em impossível em realidades não democráticas.
Processos de educação política e democrática: práticas de educação popular e de formação de novas culturas políticas e democráticas centradas na ação dialógica que consolida a denúncia das práticas desumanizadoras por opressoras e anunciam novas relações e formas de vida nas quais cada um e cada uma possa “dizer a sua palavra” e seja escutado/a, além de escutar aos demais e às demais, enfrentando as práticas que calam e impedem a participação efetiva nos diversos espaços da vida e da luta política. O enfrentamento de todas as “pedagogias da crueldade” e a promoção de práticas de “pedagogia da proteção” (Carbonari, 2023) é prátca. A retomada das estratégias, das metodologias e das práticas ancestrais de proteção popular daqueles e daquelas que se organizam e lutam (que num neologismo insuficiente, são tidos por “defensores e defensoras de direitos humanos”), é também outra possibilidade. As práticas de educação popular são diversificadas e têm um conteúdo centralmente político que vai sendo articulado e configurado às realidades nas quais é desenvolvida, promovendo a formação de subjetividades orientadas à convivência democrática, a relações justas, ao cuidado com o ambiente natural e a luta por direitos. O exercício de processos de formação política popular é um alento para a construção de novas relações em dinâmicas abertas.
Bem-viver/viver bem como possibilidade: o “futuro ancestral” (Krenak, 2022) se constrói como busca das raízes e os legados que podem gerar possibilidades outras para além das relações destrutivas do capital e suas diversas expressões. Entre estas está o “bem-viver”, que é diferente de bem-estar e de estar bem, de viver bem ou de boa vida – expressões conhecidas nas várias tradições ocidentais e que até inspiraram o welfare state. Nas tradições indígenas andinas significa: sumaj kamaña, em quéchua; sumak kawsay, em quíchua; allin kausaw, em aymara; na tradição guarani: Teko Kavi. Ainda que com diversas e específicas acepções, bem viver pode ser entendido como “viver em plenitude” ou, como dizem as comunidades indígenas andinas: “Bem-Viver é a vida em plenitude. Saber viver em harmonia e equilíbrio; em harmonia com os ciclos da Mãe Terra, do cosmos, da vida e da história, em equilíbrio com todas as formas de existência, em permanente respeito” (COAI, 2010, tradução nossa). Trata-se de uma proposta que acolhe as mais diversas maneiras de viver, os modos de vida mais plurais, abrindo-se à pluridiversidade, à diversidade, à interculturalidade, ao pluralismo social e político entre os humanos, mas também com a Terra, com a qual se propõe a viver em conjunto (Acosta, 2016). Esta nova perspectiva de vida coloca exigências de fundo e emerge desde as perspectivas mais originárias dos diversos povos para alimentar possibilidades outras de mundos e de vidas, para além das relações próprias do capitalismo e das democracias liberais.
Comum a construir: a necessidade de escapar da dualidade binária entre estado e mercado, o que inclui as capturas do estado pelo neoliberalismo (transformando-o em estado-empresa) produzindo uma “hibridização entre estado e mercado” (Dardot e Laval, 2017) por meio da qual, ainda que se proponha a garantir acesso universal aos serviços públicos – o que até pode manter retoricamente – na verdade reduz usuários a consumidores que são excluídos de qualquer forma de participação na gestão. Alternativamente tem sido levada adiante a proposição de um novo sentido do comum. O comum como “princípio político” e não um modo de apropriação dos bens, o que faz com que não se confunda bem em sentido ético e político com bem em sentido comercial (um comum não é uma aquisição e nem alienável, escapando da lógica proprietária). O comum resultaria de uma “práxis instituinte” (que não visa só institucionalizar), um recriar com ou com base em o que já existe – sendo cada prática única… por isso plural (Dardot e Laval, 2017). O direito que nasce daí difere do direito fundado na propriedade (direito de propriedade) que até admitia um certo direito de uso (como relação com coisas externas para satisfazer necessidades vitais) e trabalha com a ideia de uso como “usar com” outra pessoa como um conduzir-se de um certo modo com os outros em relação ativa e significativa com eles sem ter por meta a “consumação” apropriativa. O comum demanda democracia política com participação de todos e todas (nunca tecnocracia) – exigindo novas formas de relação e atividade em experiências da práxis instituinte – menos programática – de modo que o comum seja o que há de submeter tanto o estado quanto o mercado, transversal a eles por definir o que é “inapropriável” (por exemplo: proibir de se apropriar da terra para dar a ela uma destinação social para a produção de alimentos saudáveis).
Os direitos que precisamos: a construção do significado dos direitos humanos para as comunidades populares e povos tradicionais passa pela possibilidade de entendê-los como acesso e usufruto dos “bens comuns”, enfrentando os processos de apropriação e de acumulação privada centradas na “propriedade privada” que vai transformando direitos em mercadorias. A desigualdade é agenda que se agrava e que compromete efetivamente a realização dos direitos para as maiorias (Oxfam, 2024), daí porque direitos precisam proteger aos que mais precisam, o que não significa abrir mão de que são todos direitos de todos e todas (universalismo aberto e em construção), em nome de ir aceitando “focalizações”. Também exige entender como direitos o acolhimento, o respeito e a promoção das diversidades, todas elas. E de direitos que também sejam realizados com a participação direta de cada sujeito e sujeita de direitos nos mais diversos níveis e processos necessários à sua efetivação. Os direitos de que precisamos hão de retomar a necessária combinação (protelada ou negada pelo capitalismo neoliberal) entre redistribuição (garantido os direitos de proteção social, econômica, cultural), o reconhecimento (garantindo os direitos às diversidades) e a participação direta (garantindo os direitos políticos), todos eles combinados com os Direitos da Terra. Enfrentar as posições antiuniversalistas, etnopluralistas e diferencialistas que têm sido defendidas pela extrema direita é exigência para que efetivamente “ninguém fique para trás”.
Proposições para o debate
As proposições aqui sistematizadas querem abrir horizontes para a realização das democracias com direitos humanos e equidade (no mundo e no Brasil) no século XXI. Não querem inaugurar qualquer tipo de agenda, programa ou demanda. Querem apenas, e não mais do que, coerentemente com o que foi trazido na análise-diagnóstica anteriormente apresentada, oferecer sugestões que possam subsidiar debates. São apresentadas de modo sintético e esquemático.
- Fortalecimento e defesa democrática das democracias. Uma das qualidades fundamentais das democracias é a construção de condições de proteção da própria democracia contra processos de destruição que, por vezes, são gestados dentro dela mesma, o que parece óbvio, mas diante das constatações dos processos de destruição patrocinados pela extrema direita, especialmente, é necessário fortalecer as bases que produzem os caminhos para que as estruturas e processos não sejam capturados, enfraquecidos e inviabilizados.
- Radicalização dos processos insurgentes e instituintes. Enfrentar o enfraquecimento das dinâmicas e estruturas democráticas em processos de conciliação e de desqualificação das potências existentes nas bases das sociedades é essencial para que os processos insurgentes e instituintes, produzidos por uma diversidade significativa de “empotenciamentos” permanentes, ganhem cada vez mais expressão e radicalidade, contando, inclusive, com medidas concretas para sua proteção, para aumentar ao máximo a intensidade democrática capaz de ocupar os diversos espaços sociais, políticos, econômicos e culturais.
- Superação da “acumulação infinita”. O desenvolvimentismo presente nas práticas colonialistas, predatórias e expropriatórias, que seguem reproduzindo dinâmicas de concentração e de desigualdade crescente, precisa ser superado promovendo alternativas de economia solidária e de promoção do “bem-viver” com a adoção de medidas para a “abundância do suficiente” e a “troca por reciprocidade” a serviço das necessidades humanas em comum que tenham na natureza não um simples recurso a ser utilizado, mas a mãe terra com direitos, com respeito e promoção da diversidade das formas de vida, a valorização de formas diversas de propriedade (privada em pequena escala, comunitária, cooperativa, comunal, entre outras), o que exige construir estratégias pós-capitalistas de convivência e um novo “direito ao desenvolvimento” como parte dos direitos humanos, para além de metas objetivos reducionistas que sequer são atingidos ou desenhos de futuros não sustentáveis.
- Enfrentar e superar capturas corporativas. Sem que se produzam condições objetivas para o enfrentamento do “poder corporativo” que cerca e controla com cada vez mais ênfase, que privatiza e expropria excessivamente, não haverá democracias, exigindo revitalizar e fortalecer os processos comuns, públicos, estatais, a regulação das grandes empresas e reinventar os negócios a fim de gerar avanços concretos e vinculantes (em âmbito nacional e internacional) que aumentem a responsabilidade empresarial com direitos humanos (muito mais do que duo dilligence).
- Promoção da igualdade e da equidade. O enfrentamento das desigualdades que devastam as convivências e inviabilizam a vida de milhões de seres humanos e de outras formas de vida no planeta exige medidas concretas de redução radical da concentração e a instituição de processos e procedimentos de acesso cada vez mais universal a uma renda básica combinada com as proteções necessárias àqueles/as que estão mais fragilizados/as para que se retome a agenda de garantia de todos os direitos humanos de modo universal, indivisível e interdependente, sem o que as democracias estarão cada vez mais comprometidas e com cada vez mais dificuldade de efetivação.
- Alargamento das experiências democráticas. As dinâmicas próprias dos sistemas eleitorais e as configurações e estruturações do Estado Democrático de Direito são fundamentais de serem preservadas e qualificadas, mas a vida democrática é muito mais ampla do que estes podem conter e se ampliam para as relações, de modo que o desafio está em democratizar ao máximo as relações, superando todos os tipos de hierarquizações, verticalismos e subordinações por motivo de raça/etnia, de sexo/gênero/identidade sexual, de idade/geração, de territorialidade, de capacidade ou deficiência, no sentido de experimentar substantivamente a democracia como forma de vida.
- Fortalecimento e ampliação da participação direta. Os direitos humanos não ser realizam nem por representação e nem por procuração, mas com participação direta de cada sujeito/a no usufruto efetivo da materialidade da efetivação dos direitos, do mesmo modo, as formas representativas não substituem a participação direta nas dinâmicas democráticas, de modo que, fortalecer o poder popular e ampliar as mais diversas formas de participação direta para que as democracias efetivem os direitos humanos e a equidade, exige conhecer as experiências mais promissoras para sua efetivação e a abertura para que estratégias, metodologias, dinâmicas, processos e estruturas de participação direta sejam cada vez mais efetivadas.
- Fortalecimento do multilateralismo e do monitoramento dos compromissos com direitos humanos. A convivência supranacional exige a construção e o fortalecimento de espaços cada vez mais potentes de promoção do “entre”, de modo a que o comum a toda a humanidade encontre lugar político, o que requer a democratização dos espaços e o fortalecimento de sua capacidade de ação multilateral, enfrentando colonialismos e imperialismos, tanto para colaborar com as democracias nos diversos lugares do mundo, quanto para que os direitos humanos sejam acompanhados com o cuidado necessário para que se avance na sua permanente formulação e também na sua implementação, por processos cada vez mais fortes e exigentes de monitoramento dos compromissos e de implementação das medidas necessárias à sua efetivação.
- Promoção da educação política. A formação da cultura política com práticas de educação democrática para a democracia, a formação permanente e ampla nos espaços formais de educação, mas também em dinâmicas e processos de educação popular, inclusive para lidar com os recursos de inteligência artificial e de tecnologia da informação, completam-se com a promoção da memória histórica, que reforça o “direito à recusa”, ao “nunca mais” e o “direito de resistir” a todas as formas autoritárias, fazendo frente a dinâmicas de “apagamento” e de “esquecimento” das experiências totalitárias constitui um dos grandes desafios para promover o “sentido histórico” e a construção de valores compartilhados.
- Promoção da ação dialógica. A superação das dinâmicas centradas na identidade e na “separabilidade” como bases de construção epistêmico-política que estão na origem de todas as discriminações, junto com a superação de dinâmicas de competição e de fragmentação, pela promoção de práticas das solidariedades, dos mutirões, das colaborações, das cooperações, já presentes como parte do cotidiano da vida das comunidades populares que conformam o núcleo das resistências, gerando confianças, compromissos e cuidados que possam “potenciar as virtudes populares” e a ação dialógica transformadora, o que também inclui o permanente monitoramento das práticas de ódio presentes nas sociedades e alimentadas pelas piores experiências históricas de desumanização (nazismo, fascismo, escravismo, extermínios e outras), com programa de enfrentamento dos fundamentalismos de todo o tipo, particularmente os de base religiosa, promovendo a convivência restaurativa, mediações pacificadoras, processos de diálogo intercultural e religioso.
Enfim, retomar a centralidade dos direitos é o desafio de fundo para fortalecer as democracias e promover a igualdade/equidade, garantindo a centralidade da agenda de direitos (humanos e da Terra) para fazer frente às devastações do capitalismo neoliberal com a preservação dos bens que são comuns e para que as diversas formas de vida sejam cuidadas, defendidas, preservadas, desenvolvidas, opondo-se às dinâmicas de ataque, de inversão e de corrosão dos direitos humanos.
Referências
ACOSTA, Alberto. O Bem-viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Trad. Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária; Elefante, 2016.
ACOSTA, Alberto; MARTÍNEZ, Esperanza (Orgs.). La Naturaleza con Derechos – de la filosofía a la política. Quito: Abya-Yala, 2011.
ARIAS, David Díaz; MACKENBACH, Werner (Ed.). Democracias asediadas: golpes de estado en América Latina (siglos XX y XXI). Buenos Aires: Teseo; SDL, 2024.
BALDI, César Augusto (Org.). Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito de História. In: LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses Sobre o Conceito de História. Trad. W. N. Caldeira Brandt [Trad. das teses por J. M. Gagnebin e M. L. Müller]. São Paulo: Boitempo, 2005.
BERARDI, Franco “Bifo”. Depois do Futuro. Trad. Regina Silva. São Paulo: Ubu, 2019.
BERARDI, Franco “Bifo”. Ensaio sobre o Tecnofascsmo. Trad. Rôney Rodrigues. Outras Palavras, em 25/09/2024a. Disponível em https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/bifo-ensaio-sobre-tecnofascismo/
BERARDI, Franco “Bifo”. Para uma antropologia do novo fascismo. Trad. Glauco Faria. Outras Palavras, em 09/08/2024. Disponível em https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/para-uma-antropologido-novo-fascismo/
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Uma defesa das regras do jogo. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
BUTLER, Judith. Discurso de Ódio. Uma política do performativo. Trad. Robeta F. Visardi. São Paulo: Unesp, 2021.
BUTLER, Judith. Quadros de guerra. Quando a vida é passível de luto? Trad. Sérgio T. de N. Lamarão e Arnaldo M. da Cunha. Rev. Marina Vargas e Carla Rodrigues. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. 2. ed. Trad. Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
CAMPELLO, Filipe. Crítica dos Afetos. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.
CARBONARI, Paulo César (Org.). Sentido Filosófico dos Direitos Humanos: leituras do pensamento contemporâneo. Passo Fundo: IFIBE, 2006 (v. 1), 2009 (v. 2), 2012 (v. 3).
CARBONARI, Paulo César. A potencialidade da vítima para ser sujeito ético: construção de uma proposta de ética a partir da condição da vítima. Tese. Doutorado em Filosofia. Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). São Leopoldo, 2015.
CARBONARI, Paulo César. Atuação em Direitos Humanos: ensaiando pistas para a orientar práticas. Revista Mbote, Salvador, v. 1, n. 2, p. 01-19, Jul/Dez., 2020. Disponível em www.revistas.uneb.br/index.php/mbote/index.
CARBONARI, Paulo César. Democracia e direitos humanos: reflexões para uma agenda substantiva e abusada. In: BITTAR, Eduardo C. B.; TOSI, Giuseppe (org.). Democracia e educação em direitos humanos numa época de insegurança. João Pessoa: UFPB, 2008. p. 10-27.
CARBONARI, Paulo César. Por uma compreensão libertadora de direitos humanos: estudo a partir das contribuições de Enrique Dussel. In: MACHADO, Adilbênia F.; PANSARELLI, Daniel; OLIVEIRA, Eduardo. Filosofia da Libertação Latino-americana e Africana: liberdade e resistência. Goiânia: Phillos Academy, 2024. p. 49-73.
CARBONARI, Paulo César. Proteção Popular em Direitos Humanos. Sentidos, Limites e Potencialidades. Passo Fundo: Saluz, 2023.
CARBONARI, Paulo César. Sujeito de direitos humanos: questões abertas e em construção. In: GODOY SILVEIRA, Rosa M. et al. (Org.). Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: UFPB, 2007. p. 169-186.
CARBONARI, Paulo César. Vítima: sujeito ético da libertação – a proposta de Enrique Dussel. CARBONARI, Paulo César; COSTA, José André da; MACHADO, Lucas (Org.). Filosofia e libertação: homenagem aos 80 anos de Enrique Dussel. Passo Fundo: IFIBE, 2015. p. 101-121.
CARBONARI, Paulo César; SALVETTI, Ésio Francisco. Democracia e autoritarismo: para uma reflexão filosófica sobre o “extermínio legítimo”! Veritas, Porto Alegre, v. 65, n. 3, p. 1 -14, Set-Dez. 2020.
CASARA, Rubens R. R. Estado pós-democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
CESARINO, Letícia. O mundo do avesso. Verdade e política na era digital. São Paulo: Ubu, 2022.
COAI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas). Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Lima: COAI, 2010.
CRARY, Jonathan. 24/7 – Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Trad. Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016.
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. Comum. Ensaio sobe a revolução no século XXI. Trad. Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2017.
DOWBOR, Ladislau. A era do capital improdutivo: por que oito famílias têm mais riqueza do que a metade da população do mundo? São Paulo: Autonomia Literária, 2017.
DUSSEL, Enrique. 14 Tesis de Ética: hacia la esencia del pensamiento crítico. Madrid: Trotta, 2016.
DUSSEL, Enrique. 20 Teses de Política. Trad. Rodrigo Rodrigues. Buenos Aires: Clacso; São Paulo: Expressão Popular, 2007.
DUSSEL, Enrique. Derechos vigentes, nuevos derechos y derechos humanos. Revista Crítica Jurídica. Mexico, UNAM, n. 29, p. 229-235, Ene.-Jun. 2010.
DUSSEL, Enrique. Direitos Humanos e Ética da Libertação: pretensão política de justiça e a luta pelo reconhecimento dos novos direitos. Revista InSURgência, Brasília, Universidade de Brasília (UnB), ano 1, n. 1, p. 121-136, Jan.-Jun. 2015
DUSSEL, Enrique. Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão. Trad. Jaime A. Clasen et al. Petrópolis: Vozes, 2000 [Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Madrid: Trotta. 1998].
DUSSEL, Enrique. Filosofia Política. Arquitetônica. Trad. Paulo César Carbonari (Coord.) et al. Passo Fundo: Editora Acadêmica do Brasil, 2020. Vol. II.
DUSSEL, Enrique. Filosofia Política. História Mundial e Crítica. Trad. Paulo César Carbonari (Coord.) et al. Passo Fundo: IFIBE, 2014. Vol. I.
ELEY, Geoff. Forjando a Democracia. A história da esquerda na Europa, 1850-2000. Trad. Paulo C. Castanheira. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005.
EZLN. Cuarta declaración de la Selva Lacandona. In: Documentos y comunicados. Ciudad de México, n. 3, 1 de Enero de 1996. Disponível em https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/ cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona/
FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Trad. J.L. de Melo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
FOUCAULT, M. Nascimento da Biopolítica. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. l2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
FRICHER, Miranda. Injustiça Epistêmica. O poder e a ética do conhecimento. Trad. Breno R.G. Santos. São Paulo: USP, 2023.
GALEANO, Eduardo. O Livro dos Abraços. Trad. Eric Nepomuceno. Porto Alegre: L&PM, 2015.
GARCÍA LINERA, Álvaro. La democracia como agravio. Buenos Aires: Clacso; Facultad de Ciencias Sociales – UBA, 2024.
GILMOUR, Andrew. The global backlash against human rights. ONU. OHCHR, 2018. Disponível em www.ohchr.org/en/statements/2018/06/global-backlash-against-human-rights
GROSFOGUEL, Ramon. Para um Pluri-versalismo Transmoderno Decolonial. Tábula Rasa, Colômbia, n. 9, p. 199-215, Jul./Dez. 2008.
GROSFOGUEL, Ramón. Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI. Tabula Rasa. Bogotá, Colômbia, n. 19, p. 31-58, Jul.-Dic. 2013.
HARARI, Yuval Noah. Começamos a ver como as decisões dos algoritmos moldam a política, a cultura e a sociedade. Entrevista a Justo Barranco. La Vanguardia, em 03/09/2024. Tradução pelo Cepat e publicada pelo IHU On Line, em 14/09/2024. Disponível em www.ihu.unisinos.br/categorias/643639-comecamos-a-ver-como-as-decisoes-dos-algoritmos-moldam-a-politica-a-cultura-e-a-sociedade-entrevista-com-yuval-noah-harari
HARAWAY, Donna. Staying whith the Trouble. Durham; London: Duke University Press, 2016.
HEIDER, Asad. Armadilha da Identidade: raça e classe nos dias de hoje. Trad. Leo V. Liberato. São Paulo: Veneta, 2019.
HERRERA FLORES, Joaquin. A (re)invenção dos direitos humanos. Trad. C.R.D. Garcia et al. Florianópolis: Fundação Boiteux; IDHID, 2009.
HINKELAMMERT, Franz. Crítica de la razón utópica. San José, Costa Rica: DEI, 1984.
HINKELAMMERT, Franz. El sujeto y la ley: el retorno del sujeto reprimido. Heredia, Costa Rica: EUNA, 2003.
HORA PEREIRA, Leonardo da. A tensão entre capitalismo e democracia em Habermas: do pós-guerra aos dias de hoje. Princípios, v. 22, n. 38, p. 279-309, Mai-Ago. 2015.
HUI, Yuk. Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad. Buenos Aires: Caja Negra, 2020.
IAZZETTA, Osvaldo et al. La democracia a prueba: los años que votamos en pandemia en las Américas. Buenos Aires: Clacso; Rosario: UNR, 2022.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Trad. Beatriz Perrone-Moisés. Pref. Eduardo Viveiros de Castro. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
KOTHARI, Ashish; SALLEH, Ariel; ESCOBAR Arturo; DEMARIAY, Federico; ACOSTA Alberto (Coords.). Pluriverso: un diccionario del posdesarrollo. Barcelona: Icaría, 2019.
KRENAK, Ailton. Futuro Ancestral. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
LACLAU, Ernesto. A razão populista. Trad. C.E. Marcondes de Moura. São Paulo: Três Estrelas, 2013.
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Trad. Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001.
LEVI, Primo. É isto um homem? Trad. Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.
LEVITSKY, Steven. Como as democracias morrem. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro, Zahar, 2018.
LIIPHART, Arend. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Trad. Carme Castellnou. Barcelona: Ariel, 2000.
MARTÍN-BARÓ, Ignacio. Psicología de la liberación. Madrid: Trotta, 1998.
MARTÍN-BARÓ, Ignacio. Hacia una Psicología de la liberación. Revista Electrónica de Intervención Psicosocial y Psicología Comunitaria, n. 2, p. 7-14, 2006.
MBEMBE, Achille. A era do humanismo está terminando. Trad. André Langer. IHU On Line. Publicado em 24 Jan 2017. Disponível em www.ihu.unisinos.br/eventos/564255.
MBEMBE, Aquile. Necropolítica. Revista Arte & Ensaio, Programa de Pós-graduação em Artes Visuais EBA/UFRJ, n. 32, p. 123-151, Dez. 2016.
MIGNOLO, W. Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Del Signo, 2010.
MIGUEL, Luis Felipe. Dominação e Resistência. Desafios para uma política emancipatória. São Paulo: Boitempo, 2018.
MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. Trad. Pablo Sanges Ghetti. Revista de Sociologia Política, Curitiba, n. 25, p. 11-23, Nov. 2005.
MOUFFE, Chantal; LACLAU, Ernesto. Hegemonia e Estratégia Socialista. Por uma política democrática radical. Trad. J.A. Burity; J. de Paula Jr; A. Amaral. São Paulo: Intermeios, 2015.
MOUNK, Yascha. O Povo contra a Democracia. Porque nossa liberdade corre perigo e como salvá-la. Trad. Cassio de A. Leite e Débora Landsberg. São Paulo Companhia das Letras, 2018.
NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro. Processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
NUNES, Rodrigo. Nem Vertical nem Horizontal. Uma teoria da organização política. São Paulo: Ubu, 2023.
ONU. Declaração e Programa de Ação da II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. Viena, 14-25 de junho de 1993. Disponível em www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf
ORNELAS ROSA, Pablo (Org.). Fascismo tropical: uma cibercartografia das novíssimas direitas brasileiras. Vitória: Milfontes, 2019.
OXFAM. Democracias Capturadas. El gobierno de unos pocos. Oxford: Oxfam, 2018. Disponível em https://policy-practice.oxfam.org/resources/democracias-capturadas-el-gobierno-de-unos-pocos-620600/
OXFAM. Desigualdades S.A. Como o poder corporativo divide nosso mundo e a necessidade de uma nova era de ação pública. Oxford: Oxfam, 2024. Disponível em www.oxfam.org.br/forum-economico-de-davos/desigualdade-s-a/
PIERUCCI, Antonio Flavio. Ciladas da Diferença. São Paulo: Editora 34, 1999.
PINTO, João Batista M. (Org.). Direitos humanos como projeto de sociedade: caracterização e desafios. Belo Horizonte: IDH, 2018.
PLEYERS, Geoffrey. El camino nunca es lineal: movimientos sociales en tiempos de polarización. Buenos Aires: Clacso, 2024.
PRONER, Carol et al. (Coord.). Estado, Política y Democracia en América Latina. Buenos Aires: ELAG; Página 12, 2022.
PRZEWORSKI, Adam. Crises da Democracia. Trad. Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
RAMOSE, Mogobe B. Sobre a Legitimidade e o Estudo da Filosofia Africana. Trad. Dirce Eleonora Nigro Solis; Rafael Medina Lopes; Roberta Ribeiro Cassiano. Ensaios Filosóficos, v. IV, Out. 2011. Disponível em www.ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo4/RAMOSE_MB.pdf
RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. Trad. Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2014.
RANCIÈRE, Jaques. O desentendimento. Trad. Ângela L. Lopes. São Paulo: Editora 34, 1996.
RIBA, Jordi. Crisis Permanente. Entre una fraternidad huéffana y una democracia insurgente. Barcelona: Ned Ediciones, 2021.
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
RUBIO, David Sánchez. Filosofía, Derecho y Liberación en América Latina. Bilbao: Desclée, 1999 (Col. Palimpsesto, 3).
SANTOS, Ana Claudia Rocha dos et al. (Org.). Democracias, Violências e Resistências: Tensões em tempos de diversidade e interculturalidade. Uberlândia: Marco Teórico, 2023. Vol. I.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A difícil democracia: reinventar as esquerdas. São Paulo: Boitempo, 2016.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Porto: Afrontamento, 2003.
SANTOS, Boaventura de Sousa; SENA MARTINS, Bruno (Orgs). O pluriverso dos direitos humanos. A diversidade das lutas pela dignidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o Autoritarismo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
SEGATO, Rita. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Revista Sociedade e Estado, v. 29, n. 2, p. 341-371, Mai-Ago. 2014.
SERRANO, Pedro E. A. Pinto. Autoritarismo e golpes na América Latina: breve ensaio sobre jurisdição e exceção. São Paulo: Alameda, 2016.
SILVA, Denise Ferreira da. A dívida impagável. Trad. Amilcar Packer e Pedro Daher. São Paulo: Forma Certa, 2019.
SILVA, Denise Ferreira da. A dívida impagável: uma crítica feminista, racial e anticolonial do capitalismo. Trad. Nathalia S. Carneiro et al. Rio de Janeiro: Zahar, 2024.
SILVEIRA, Sergio Amadeu da. Democracia e os códigos invisíveis: como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas. São Paulo: SESC, 2019.
SOLANO, Esther (Org.). O ódio como política. São Paulo: Boitempo, 2018.
SOUZA Jr., José Geraldo; ESCRIVÃO Filho, Antônio. Para um debate teórico conceitual e político sobre os direitos humanos. Brasília: DPlácido, 2016.
SOUZA, Jessé. O Pobre de Direita: a vingança dos bastardos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2024.
SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da Razão Idolátrica: tentação de Thanatos, necroética e sobrevivência. Porto Alegre: Zouk, 2021.
SOUZA, Ricardo Timm de et al. (Orgs.). A Tentação Ancestral: a questão histórico-cultural do tema da Idolatria ao longo dos séculos e sua relevância na contemporaneidade. Porto Alegre: Fundação Fênix, 2020.
SPIVAK, Gayatri C. Pode o subalterno falar? Trad. S.R. Goulart Almeida; M. P. Feitosa; A.P. Feitosa. Belo Horizonte: UFMG, 2010.
SUMMA, Giancarlo; HERZ, Monica (Org.). Multilateralismo na Mira – A direita radical no Brasil e na América Latina. São Paulo: Hucitec e PUC Rio, 2024.
TERTO NETO, Ulisses; EYNARD, Martín (Org.). Democracias latinoamericanas en crisis: diagnósticos y alternativas frente a los conflictos sociales en Argentina y Brasil. Anápolis: UEG, 2023.
TODOROV, Tzvetan. Os inimigos íntimos da democracia. Trad. J.A. de Melo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
TOMBA, Massimiliano. 1793: The Neglected Legacy of Insurgent Universality. History of the Present: A Journal of Critical History, University of Illinois Press, v. 5, n. 2, Fall 2015.
TOMBA, Massimiliano. Insurgent Universality. An alternative legacy of modernity. New York: Oxford University Press, 2019.
VALIM, Rafael. Estado de Exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo: Contracorrente, 2017.