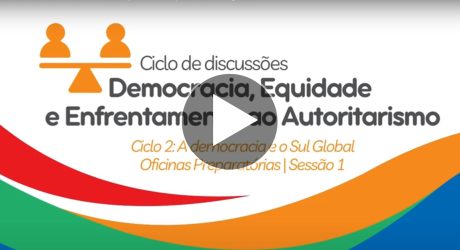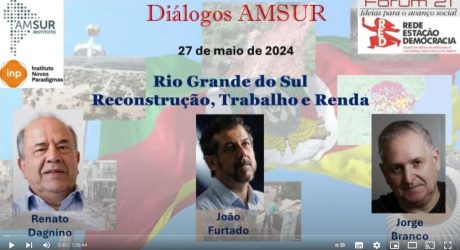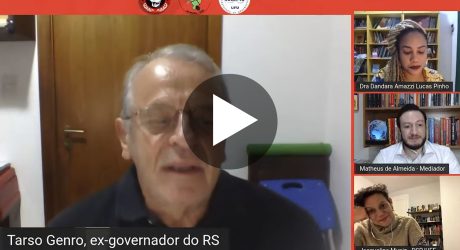Uma geração de jovens juristas e cientistas sociais vem se devotando a estudar as formas e processos de exceção, produzidos de forma constitucional ou pela força normativa dos fatos, não só a partir das doutrinas tradicionais do século passado — como as de Kelsen e Schmitt — mas também sob as lentes de outras teorias das “humanas”, como a psicologia social, a antropologia e a psicanálise.
Na análise mais tradicional da exceção, a lupa volta-se para o “decisionismo” (Carl Schmitt) que reputa que o soberano é aquele que detém o poder de instaurar a exceção, admitindo a violência sem lei “como fato jurídico primordial”, que incluído no sistema formal de normas revela uma estrutura originária, “na qual o direito se refere à vida e inclui (a violência) em si mesmo (no direito), através da sua própria suspensão” [1].
Hans Kelsen, de outra parte, analisou a exceção a partir da finalidade do seu decreto que, limitado pela Constituição e apreciado pela Corte Constitucional (como guardiã também do exercício da exceção) pretende superá-la para, ao final, resguardar as liberdades políticas e os direitos constitucionais de todos.
O pensamento jurídico social-democrata tem obtido resultados frágeis para resistir aos movimentos de ação direta do fascismo, que criaram normas ou interpretações normativas de exceção, processualmente apoiadas nos movimentos de ódio e socorridos por um “fascismo societal”, instalado mundialmente, que naturaliza os seus valores mórbidos e os integra ao cotidiano da vida comum.
O bolsonarismo, com a tolerância da maioria do STF e do Congresso, no período mais agudo da disseminação do Covid-19, por exemplo, permitiu-se realizar — de fato — uma reforma local dos padrões universais de legitimidade, permitindo e fazendo vistas grossas a ações criminosas “normalizadas” pelas instituições do Estado. E o fez sem alterar as leis vigentes, que depois foram eficazes para conter os desatinos das falanges bolsonaristas (como, por exemplo, na invasão de hospitais públicos), bem como na área de segurança pública (no desprestigio público conferido ao poder miliciano) e consequentes para conter o golpe de Estado sustado pelo STF, que reassumiu a sua função de Guardião da Constituição.
Lastreado numa ampla bibliografia sociológica e psicanalítica, com fundamentos historiográficos e filosóficos, o trabalho acadêmico do professor Domingos Barroso da Costa vai marcar — pela sua qualidade e acuidade crítica — as futuras análises deste período da nossa história. Trata-se de um período, aliás, que ainda não se encerrou e que, por estar ainda no seu “intermezzo”, não tem um fim previsível, o que faz supor que o bolsonarismo é a ponta de um movimento ameaçador que, tanto pode guardar uma certa universalidade para o futuro do continente como também poderá se dissolver nas ambiguidades de um país que, mais do que ser rico, é especialmente desigual.
Normas em movimento
As bases jurídicas do nazismo estão no famoso texto O Führer protege o Direito, de Carl Schmitt, exercício metafísico de uma época de crise, que permitiu um totalitarismo como falsificador do passado e a humilhação recolhida na guerra recente, como desastre nacional causado só pelo “inimigo”.
O fascismo jurídico italiano, em cabeças como as de Alfredo Rocco e Giovani Gentile, foi mais elaborado, pois o fascismo do “Duce” constituiu uma base cultural e moral, lastreada tanto no mito de Roma como cidade-Estado de uma época áurea da humanidade como na crítica intelectual da debilidade da formação do seu Estado Nacional moderno, na unificação italiana entre 1815 e 1870.
Os procedimentos do bolsonarismo, com o seu domínio de uma certa subjetividade social, lhe permitiu formar normas em movimento, criando um sistema de “redistribuição social da ansiedade e da insegurança, para (assim) criar condições, para que a ansiedade dos excluídos se transformasse em causa de ansiedade para os incluídos, (o que fez) evidente, que a redução da ansiedade de uns não (é) possível sem a redução da ansiedade dos outros” [2].
Este “dever-ser” normativo de uma conduta social, todavia, é tanto mais potente quanto mais adequado for o espaço social no qual ele se move, ou seja, seu “dever ser” refletirá os fatos políticos, que se hoje são especialmente surpreendentes, à época da sua criação foram cultivados como “naturais”, inclusive pela maior parte da grande imprensa nacional.
O extremismo na crise americana e a falta de reação das suas instituições, para recuperar a capacidade de dominar a exceção e se opor aos custos daquilo que Trump chama de recuperar a grandeza da América, “cortando os impostos para os ricos substituindo-os pela equação das composições tarifárias que (…) enriquecerá ainda mais os muitos ricos, beneficiando-os de tributação e regulação governamental reduzidas, ao mesmo tempo que (…) por meio da venda do que resta do domínio público – desde as terras dos parques nacionais até os correios e os laboratórios de pesquisa”, — aquele extremismo — busca tapar vultuosos furos orçamentários [3]. É a farsa combinada com a tragédia social de uma catástrofe.
Tragédia e farsa
O bolsonarismo não é só uma farsa, nem mesmo é só uma tragédia. Não se reproduz só como farsa porque a sua ideologia é, ao mesmo tempo, simbiótica e pura; simbiótica por misturas culturais insolúveis, e puras porque a sua visibilidade vem do invisível presumido como sociopatia em puro movimento, que não pode se apresentar com rigidez ultra-autoritária, como o “trumpismo”, porque não tem um grupo dirigente minimamente uniforme. É farsa e tragédia, ao mesmo tempo, com ressentimentos desordenados — sem um programa jurídico e econômico convincente — até para os empresários oportunistas que o apoiaram.
O fascismo também não se repete só como tragédia porque os seus personagens “práticos”, quando dizem algo sobre si mesmos, o fazem sem ideais codificáveis num programa, até mesmo para o imediato, ao contrário do que ocorreu com o fascismo e o nazismo, que se apresentavam como líderes de uma guerra de defesa da nação.
O fascismo bolsonarista, assim, é um movimento, tanto de farsa como de tragédia, mas não é nem uma nem outra, de maneira estável, pois sequer compôs um arcabouço jurídico para a sua tentativa de golpe. Só soube buscar vácuos jurídicos, para executar uma exceção composta por espasmos.
Vem a lição de Lenio Streck: o processo constituinte “de 1986-88 assumiu uma postura (…) comunitarista, onde os constitucionalistas (comunitaristas) lutaram pela incorporação dos compromissos ético-comunitários na Lei Maior, buscando não apenas reconstruir o Estado de Direito, mas também ‘resgatar a força do Direito’, cometendo à jurisdição a tarefa de guardiã dos valores materiais positivados na Constituição” [4]. Gesta Leal por outra via, na mesma direção sustenta que tudo que é contra o direito da Constituição “é um obstáculo à liberdade segundo leis universais (…) portanto, se um determinado uso de liberdade é um obstáculo à liberdade segundo leis universais –contrário ao direito – então a coação (como exceção prevista pelo Direito) que se lhe opõe, concorda com esta liberdade universal” [5].
A tensão da exceção é permanente, pois ela é um modo de legitimar — por dentro da ordem que prevê a sua instauração dentro da democracia, como em Kelsen — ou por fora dela, no fascismo, — pelo chefe que se investe como dono da soberania estatal — qualquer um destes pode se apresentar como defensores da sobrevivência do Estado.
Quando o Estado declara a exceção e o faz pela Carta Constitucional, para defender-se do fascismo, ele pode voltar ao seu funcionamento normal, mais forte e mais democrático, mas quando ele reage só pelo juízo do chefe do Executivo, para defender seu próprio poder de arbitragem, ele volta mais frágil, embora possa se tornar mais forte, para descambar novamente para o autoritarismo, como pode ocorrer, neste momento, com a tentativa de anistia para os golpistas de 8 janeiro.
O conhecimento dessas configurações do Direito deve ser aprofundado para não permitir o congelamento de “reformas”, nas primeiras formas que elas adquirem, logo após um impasse. Exemplo: as fontes materiais que demandam as reformas revogatórias da CLT ainda estão em movimento, mas há uma proteção laboral que resiste, porque a industrialização é a fonte material das formas de proteção ao trabalho, numa sociedade industrial que ainda sobreviverá por muito tempo.
A trajetória do fato para a norma é um longo percurso para revogar o “velho”, e o seu caminho facilita a aceitação do atalho do fascismo, como forma política capaz dar-lhe maior rapidez. Suas bases são as encenações para impor o “nós contra eles”, como ressalta o autor do “Bolsonarismo como repetição”, situação ideal que divide a sociedade e favorece — na interpretação constitucional e na produção das normas — quem tem recursos culturais e materiais para dominar o cenário dos debates. E estes não são os trabalhadores, fragmentados pelas mudanças tecnológicas no mundo do trabalho, cujos líderes principais não se preocuparam em compreender e acompanhar as pesadas mudanças ainda em curso no sistema-mundo.
[1] FÉLIX, Diogo Valério; ÁVILA, Gustavo Noronha de. ENTRE A REGRA E EXCEÇÃO: KELSEN E SCHMITT NOS DEBATES SOBRE SOBERANIA E OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA; e COSTA, Domingos Barroso da. O BOLSONARISMOS E A REPETIÇÃO DO MESMO: ATUALIZAÇÕES DE UM FASCISMO EM VERDE E AMARELO. Disponível. Acesso em: 10 de abril de 2025.
[2] SANTOS, Boaventura de Sousa. Reinventar a Democracia. Direcção de Mário Soares. 1.ª Edição. Cadernos Democráticos. Lisboa, Portugal: Gradiva. 1998. ,pg.: 45
[3] HUDSON, Michael Tradução: Antônio Martins. Trump: eis o “Grande Plano”. Disponível aqui
[4] STRECK ., Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado,20002,pg.: 127.
[5] LEAL, Rogério Gesta. Hermenêutica e Direito: considerações sobre a teoria do direito e os operadores jurídicos. -3ed.- Santa Cruz do Sul; EDUNISCK, 2022, p. 119.